
Bilhete-postal enviado por Ana Gomes
Cá em baixo o nevoeiro é denso e húmido. Talvez lá em cima esteja sol, diz-nos o guia. Ou então, não. Não sabemos. Talvez daqui a umas duas horas, quando tivermos chegado à altura da primeira cratera, haja abertas e talvez seja possível ver alguma coisa cá para baixo, ver o resto da ilha, os campos verdes, as outras ilhas do grupo central, o mar. Ou talvez não. É isto: para saber, é preciso subir. Levar roupa para todas as temperaturas, para a chuva como para o sol, e não esperar nada. Com sorte, pode ter-se tudo – bom tempo, abertas, a vista desafogada.
Eu tive sorte: para começar, porque logo no dia em que cheguei ao Faial me telefonaram a confirmar que ia haver subida já no dia seguinte, era apanhar o primeiro barco para o Pico. E depois, porque passando a morrinha, o nevoeiro, a lama dos primeiros metros, atravessando as nuvens, lá em cima havia sol, havia algumas abertas, e embora não desse para ver o postal ilustrado das outras ilhas em redor, havia clareiras entre a cama fofa das nuvens aos nossos pés que permitiam ver alguns campos, pedaços de mar, linhas de costa, o desenho dos muros e das árvores. Não podia pedir melhor.
A subida do Pico não é especialmente difícil. O piso é firme, com uma aderência excelente graças à pedra vulcânica que cobre muitos dos troços. Custa mais a descida, e pelos mesmos motivos: os joelhos sentem logo a dureza do solo, os ziguezagues permanentes por entre as pedras pedem equilíbrio e atenção, a cabeça cansa-se, parece que nunca mais vamos chegar. Havia pessoas mais afoitas que eu, que tinham subido sozinhas. Um grupo que foi de noite, para ver o nascer do sol. Eu, em pleno dia, cheia de frio, antes ainda de passarmos as nuvens, com a chuva a colar-se-me à cara.
Mas o que é maravilhoso é pisar aquele chão e pensar como a terra é tão nova – uma ilha com uns 150 mil anos, tão jovem que ainda não há erosão suficiente para cobrir decentemente de terra as pedras de lava e as lajes. Se pensarmos na idade do planeta, o Pico é um pedaço de terra quase a estrear. No caminho desde a Madalena até à casa de montanha onde se começa a subida estranhei o relevo da terra à minha volta: o chão parecia semeado de grandes grumos, todos revestidos de líquenes e ervas miúdas, dum verde claro e húmido que se ia diluindo no nevoeiro. Até que percebi: aquele chão não era de terra, era de pedra, de escórias vulcânicas, pedaços de calhau lançados lá do alto, em tempos. Ainda quase não havia terra, ali.
Eu nunca tinha subido a cratera de um vulcão, e portanto não conhecia aquele tipo de montanha. Sem ter qualquer noção de geologia, tenho um fraquinho por vulcões: é de lá que sai a terra, são um caminho aberto (embora intransponível) para o interior da Terra. E conseguir ver claramente o desenho dos fios de lava a descer pela encosta, as rugas de arrefecimento, como na nata que se sopra à superfície do leite, os túneis de lava, ocos, que às vezes pisávamos, os rosas e cinzentos e castanhos dos vários tipos de rocha - tudo isso me deixava estupidamente feliz naquela subida, e cada vez mais à medida que a montanha se tornava mais dura e seca, só pedra.
Depois há coisas que são apenas da ordem da beleza, como a clareza das linhas que marcam as três erupções: a primeira cratera, larga e de aresta mais gasta; a segunda, um anel perfeitamente desenhado, rodeado por um murete de pedras que protege o chão interior; e por fim o Piquinho, aquela coisa caprichosa, que parece (a começar pelo nome) uma brincadeira de crianças que passaram a tarde a empilhar pedrinhas. O Piquinho sobe-se quase de gatas, numa espécie de escalada que não precisa de grande técnica nem de de qualquer tipo de atributo atlético. Lá em cima o vento é bruto, o sol é forte, o mar é largo e muito azul, e há um fiozinho de fumo a sair do chão que não nos deixa esquecer de onde estamos.

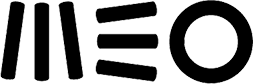

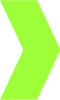
Comentários