
Mudas, contam uma história, às vezes misteriosa, outras polémica, nem sempre fácil de descobrir e frequentemente alimentada por boatos. Inertes, pedem criatividade para imaginar como seriam quando nelas havia vida. Já tiveram um propósito, talvez até mais do que um, do qual foram esvaziadas. Com sorte, servem agora algum outro, e com mais sorte ainda talvez um dia voltem à vida. São ruínas, não aquelas seculares e monumentais que se tornaram ímanes turísticos, nem as desenterradas por escavações arqueológicas, mas sim as que resultaram do simples abandono de um local, levando à sua degradação.
Achada do Gamo (Mértola)

Se a memória não me falha, as primeiras ruínas deste género que fui propositadamente ver foram as da antiga Mina de São Domingos. Nessa altura, na era pré-Internet, ainda eram um local quase desconhecido e pouco visitado, e fiquei impressionada com a beleza alienígena do lugar – que continua a ser, ainda hoje, um dos meus sítios preferidos em Portugal. Junto à aldeia, agora mais famosa por ter uma das melhores praias fluviais da Europa, há algumas ruínas de edifícios usados em apoio exploração mineira do depósito pirítico de São Domingos (desenvolvida até 1966 pela empresa britânica Mason & Barry), nomeadamente das antigas oficinas ferroviárias. Há também uma enorme cratera cheia de água carregada de minérios, exposta entre camadas de rocha colorida. Mas o local de que mais gosto encontra-se poucos quilómetros mais a sul, na Achada do Gamo.
O percurso até lá faz-se entre árvores, de um lado, e terra árida do outro, por vezes matizada de cores invulgares, resultantes da interacção dos resíduos minerais ainda presentes no solo. A meio do caminho, na margem oposta de um curso de água, vê-se o que resta do centro de britagem e queima da Moitinha. Depois surgem ao longe duas torres com aspecto pós-apocalíptico, e de repente somos como que teletransportados para um qualquer planeta sem vida: terra nua, num cinzento que vai do quase branco até ao negro-carvão; edifícios meio desfeitos, formas de um puzzle geométrico recortado contra um céu imaculado, paredes esboroadas, com cabos de metal oxidado que se projectam das suas entranhas como tentáculos de um animal intergaláctico moribundo, pedras manchadas pela ferrugem. E um silêncio quase total, apenas cortado pelo som da brisa que passa ou por um qualquer piar longínquo. Em todas as vezes que lá regressei, mesmo sem o factor surpresa, a emoção foi sempre a mesma: senti-me simultaneamente fascinada e comovida.
Se tivesse conhecido este lugar quando a mina se encontrava em funcionamento, será que teria sentido o mesmo? Tenho sérias dúvidas. Máquinas em movimento, fumos, barulho, pessoas a trabalhar em condições que talvez não fossem as melhores… nada disso contribuiria para o que é agora a beleza do lugar. E aquilo que mais me comove é precisamente a fragilidade do que terá sido em tempos um grande empreendimento – fragilidade tóxica, é certo, cujos efeitos ainda perduram mesmo depois de tantas décadas de inactividade; mas também uma prova de que, se deixadas ao abandono, mesmo as maiores obras acabam por desaparecer, desgastadas pelo ar, pela água, pela terra. Tal como nós, seres humanos. Estes lugares arruinados são o espelho da nossa própria fragilidade e irrelevância.
Aldeia de Drave (Arouca)

esta aldeia onde já não vive ninguém em permanência desde o ano 2000, situada no fundo de um vale entre três serras e invisível a partir das estradas que serpenteiam em redor, só se chega a pé. Chamam-lhe “aldeia mágica”, e é verdade que tem o poder de enfeitiçar quem se decide a conhecê-la, apesar do seu acesso difícil. Talvez seja este poder que faz com que a sua capela e várias casas ainda se mantenham de pé, ou talvez (mais provavelmente) isso se deva ao facto de Drave estar desde 1995 sob a protecção do Corpo Nacional de Escutas, sendo desde 2003 a Base Nacional dos Caminheiros, (que passou a ser designada por Drave Scout Centre a partir de 2016). Estes escuteiros implementaram um projecto de recuperação de algumas casas e realizam regularmente actividades na aldeia.
Não há electricidade, água canalizada ou gás, não há carros nem motas, e a probabilidade de encontros com outras pessoas é reduzida. Este é sem dúvida o maior atractivo de Drave, que se tornou uma espécie de Meca para quem gosta de caminhar na natureza – outra das razões para esta aldeia, apesar de desabitada, não estar abandonada. O ambiente é de tranquilidade total e sabe bem passear por entre as suas casas de pedra escura, umas ainda quase intactas, outras já a caminho da ruína completa, espreitar para dentro da capelinha, branca e bem cuidada, piquenicar junto ao ribeiro – onde nem falta uma pequena cascata – ou apenas vegetar no prado verde que ocupa uma das encostas (e parece coisa de filme).
Termas de Radium (Sortelha)

Não é incomum encontrar grandes edifícios cuja ruína até me faz doer a alma. Um dos que me intrigou durante bastantes anos fica perto de Sortelha, pouco antes de começarmos a subir por entre os impressionantes rochedos graníticos da serra: o antigo Hotel da Serra da Pena, mais conhecido por Termas de Radium. Construído quando ainda se pensava que os efeitos do rádio eram benéficos para a saúde e que as águas que possuíssem este elemento eram, consequentemente, boas para tratar toda uma panóplia de males físicos, este hotel requintado podia hospedar até 150 pessoas e possuía instalações termais equipadas com tudo o que era imprescindível para os tratamentos recomendados na época, que incluíam a ingestão de água – obviamente radioactiva – na quantidade de um litro por dia. Esta água era também engarrafada e vendida para o exterior. Após a constatação de que, afinal, as águas radioactivas da Serra da Pena não eram a panaceia apregoada, mas antes o inverso, a estância termal do hotel foi encerrada em 1945. O hotel continuou a ser explorado, passando por vários donos, mas os seus dias estavam contados. Vendido o recheio e deixada a propriedade ao abandono, o seu proprietário actual adquiriu-a em leilão e é português. Existem vagos planos de recuperação do local, mas nunca saíram da gaveta.
Enquanto isso, o edifício continua a resistir como pode às inclemências do tempo, sem perder a sua imponência. Algumas das suas paredes, construídas com grandes paralelepípedos de granito, mantêm-se pé, e no alto, em destaque, ainda há colunas rematadas por pináculos e frisos recortados a evocar ameias. Todo o complexo é um jogo de volumes diferentes, cada parte do edifício com o seu próprio formato e características, mas o efeito final continua harmonioso, mesmo faltando-lhe já muitos dos seus elementos essenciais. Afastado da estrada principal e tendo como cenário de fundo os penedos graníticos da serra e alguns pinheiros, o lugar é silencioso e transmite paz, apesar do seu passado sombrio e do seu aspecto de lugar tenebroso, quando visto de longe. É mais um daqueles lugares que nos relembra que tudo neste mundo é transitório e não podemos dar nada por garantido, nem sequer aquilo que hoje se considera uma verdade inquestionável. O tempo e o (suposto) progresso encarregam-se de mudar a nossa perspectiva sobre o que nos rodeia e a forma como vivemos, e são implacáveis para o que (e quem) cai em desgraça.
A Ana é a autora do blogue Viajar porque sim, onde uma versão deste artigo foi publicada originalmente, e escreve segundo as normas do antigo Acordo Ortográfico.

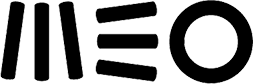

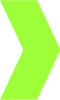
Comentários