
Texto: Carla Lourenço / Fotografia: João Pedro Augusto
O regresso a Cusco foi fugaz. Justificou-se por nos faltar ainda conhecer a montanha Vinicunca - caso justificações fossem necessárias para voltarmos onde fomos tão felizes. Chegámos primeiro que o sol à Plaza de Armas. Passava pouco das 4h30 e nós roçávamos as mãos nos braços opostos, adivinhando o frio que iríamos sentir a 5000 m de altitude. Um pequeno autocarro foi enchendo a conta-gotas à medida que percorríamos a cidade. Uma família peruana de onze empatava o trânsito por dentro, na insistência de irem todos juntos apesar de só restarem seis ou sete lugares. Por fim, partimos. Vi o sol despontar entre os edifícios e roubar destaque aos semáforos que deixavam de ser a luz mais importante. Vi a paisagem desértica voltar suavemente, avermelhada, com o acordar das populações que já se preparavam para o novo dia. Suspeito que ao meu lado ninguém tenha visto nada.
Parámos a meio caminho, à beira da estrada, para o pequeno-almoço. Ainda ensonado, ajeitando o cabelo da direita para a esquerda e abrindo um olho de cada vez, o João falava-me da importância das primeiras camadas. Insistia que eu deveria vestir mais roupa, tornar-me uma cebola humana coberta a blusas, casacos e calças. Dei-lhe razão, prometi-lhe que não passaria frio, e enchi a caneca com chocolate quente. O Elvis interrompeu-nos o sorvo para testar o nosso conhecimento e paciência. Repetiu a lenga-lenga das camadas de roupa: o passa-montanhas, o gorro ou chapéu, um bom casaco que corte o vento, umas botas de caminhada que não deslizem. Sem esquecer o oxigénio líquido, as folhas de coca e os rebuçados. Como se aquele local e momento fossem os ideais para caminhantes incautos que estão a meio caminho da montanha e não trouxeram o imprescindível. Engoli em seco quando vi aparecer atrás de mim uma banca com todo o material e mais algum; filas apressadas atiravam soles para o tampo de vidro e eu quase voltei atrás para comprar chocolates.
Os ouvidos denunciavam a distância ao nível médio do mar. Os “pop” contínuos eram acalmados com o sacudir de cabeça, o balancear de maxilares e a manobra de Valsalva que aprendi no curso de mergulho, quando ao descer equalizávamos a pressão para evitar baurotraumas.


Quatro horas depois dos primeiros raios de sol, chegámos ao sopé da montanha. Desci cautelosamente do autocarro, como se o chão fosse areia movediça e me aprisionasse caso eu decidisse ser repentina. Repeti ao João os cuidados que o tio Paulo nos tinha deixado por mensagem. Levámos as mãos à cara, oleadas a oxigénio para nos abrir as vias aéreas. Pegámos nos bastões amarelos e vermelhos, memorizámos o nome do nosso grupo e o tempo que poderíamos estar no cume e partimos.
Colocava pé ante pé, de forma tão vagarosa que era quase ridícula a velocidade a que me tentava deslocar. Fazia movimentos em câmara-lenta desajeitados, tentando contrariar a privação de oxigénio. O coração acompanhava acelerado, como se estivéssemos de volta à meia-maratona que corremos em maio, em Lisboa. Joguei os dedos à jugular e liguei o cronómetro. Fiz as contas. Cento e vinte batimentos por minuto; praticamente o dobro do que o meu organismo estava habituado para as mesmas funções. Já o João, caminhava surpreendentemente bem, apesar do frio. Qual passeio na Serra de Sintra, vi-o avançar desrespeitosamente perante a minha falta de capacidades físicas. Mas sempre atento, sempre paciente, lá me esperava ele. Esperavam com ele bancas improvisadas de comida, rodeadas de grandes pedras. Chocolates alinhados, carne a ser cozinhada nas brasas, o cheio do chá de coca no ar. À nossa frente, imensas como só elas, as montanhas abraçavam-se para as fotografias de grupo. Ajeitavam os gorros brancos a condizer. Deixavam que o sol se refletisse no melhor lado e piscavam-nos o olho – como o João me fazia tantas vezes.


Abaixo delas, enquanto caminhávamos, o terreno amarelo e verde não nos cansava como as subidas. As alpacas mastigavam o feno que lhes tinham deixado de presente. Os cavalos eram anunciados como fiéis transportadores para cima e para baixo. 40 soles. 30 soles. 20 soles. Homens e mulheres, novos e velhos em roupas tradicionalmente coloridas traziam os equinos à trela, enquanto os turistas se refastelavam no seu dorso. Fazendo lembrar um guarda-chuva espalmado para usar na cabeça, onde estava pendurada uma pequena manta cor-de-rosa com detalhes arroxeados, o chapéu prendia-se ao pescoço, atado com um ou dois nós. Era da mesma cor da blusa que não passava despercebida no cenário montanhoso, as mangas amarelas como o sol. À cintura uma faixa azul esverdeada dava início a uma saia preta, folhada que não passava dos joelhos, onde depois se viam umas calças justas azuis-marinhas. Vi a rapariga subir uma vez. Vi outras tantas descer. Parei demasiadas vezes, maldizendo a minha crónica falta de ferro. Esperava mais de mim e do meu corpo que estava habituado a treinar todos os dias.

A jornada até ao topo tomou-nos uma hora e meia. As últimas dezenas de metros, quase a pique, numa escadaria de terra batida, empurravam-nos sem esforço contra a gravidade, movidos a entusiasmo. Nuvens de pessoas aglomeravam-se, condensando-se para as fotografias que viram nos postais e nas redes sociais. Faziam V de vitória com os dedos, abriam os braços como o Cristo-Redentor, disparavam o indicador ou o polegar contra o ecrã do telemóvel vezes sem conta.
Peguei na mão do João, fria, e subimos mais umas dezenas de metros. As rajadas de vento, fortes, sacudiam-me como as folhas que dançam solteiras nas árvores. Finquei os pés ao chão, dobrei o corpo para a frente, escorreguei no pó, mas ali estava eu: no topo do mundo. A 5036 m de altitude, o mais perto do céu que alguma vez tinha estado, mantendo-me assente na terra. Tinha falhado na ascensão da montanha Machu Picchu, mas nesta não falhei. Também não me ajoelhei neste lugar sagrado, mas repeti religiosamente o que o João me tinha dito “a altitude da Vinicunca é quase metade do que os aviões comerciais voam”. Estávamos tão alto.


Uma dança em 360º mostrou-me o monte Ausangate coberto de neve – onde me imortalizei em fotografias. Acima das nossas cabeças, carcarás-andinos, da família dos falcões, faziam razias aos turistas, exibindo velocidades estonteantes e contornando a montanha delicadamente. Os dedos gelavam-me, os lábios cada vez mais secos gretavam, mas o meu corpo pedia mais dos Andes. De frente para nós, para lá do sinal localizador de altitude, a Vinicunca hasteava-se com todas as suas cores: um tapete peruano bordado a linhas horizontais vermelhas, que se intercalavam com outras brancas, amarelas, esverdeadas. Deixava-se cair para cada uma das quinas do nosso coração. As lágrimas aqueciam-me as bochechas ao escorrerem para o pescoço, mas o nariz pingava já de saudade. Apertei-me nos braços do João por mais esta conquista conjunta, sofrida, inesquecível. Desenhei a montanha a lápis de cor na cabeça, voltei a apertar os botões do casaco e iniciámos a descida.
Não sabemos se foi da privação de oxigénio durante os 60 minutos que lá existimos, mas o certo é que o topo do mundo desgastou o corpo do João de forma espontânea e abrupta. Enquanto eu ganhava energia a cada passo dado em direção ao centro da Terra, o João era sugado para um vórtice de cansaço extremo. Senti nele o abandonar das forças, os olhos que se fechavam, as pernas que não queriam andar. Eu olhava intermitentemente o relógio, tentando fazer render o nosso tempo de chegada porque a hora marcada se avizinhava mais rápido do que os carcarás-andinos planavam no céu. Perguntei-lhe, a medo, se conseguia acelerar o passo. A voz trémula e triste sussurrou um redondo “não”. Tal como subimos, esperando um pelo outro e sendo o apoio silencioso, assim descemos. A respiração ofegante estabilizou aos poucos, sacudimos o pó das botas acumuladoras de sonhos e só uma certeza restava: o mundo era pequeno demais para nós.

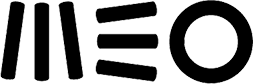

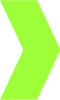
Comentários