
A 10 quilómetros de Antigua, no centro-sul da Guatemala, dou início à subida do vulcão do fogo. Um pássaro canta. Não lhe sei o género. Enquanto subo, não falo muito. A poeira vai contra a roupa que ainda está limpa. O corpo encontra uma realidade inclinada. Desvio o cabelo dos olhos. A fonte de luz bate de frente e expõe-me a cara. A mala de 4 quilos que dorme nas minhas costas acorda sempre que faço uma paragem para beber água. Quando a levanto com os braços, para aliviar o peso, parece que levo ali a vida.
Retomo o verbo subir. O suor arranha cada vez mais o rosto. Ascendo a um pensamento recorrente: os meus avós já não estão aqui para vivermos isto. Com o ganho de altitude a temperatura é cada vez mais fria. Quando chegar aos cerca de -5°C é porque cheguei ao topo, aproximadamente 3800 metros. Cada curva é uma porta que se abre, para cima, como se tudo fosse dar a um terraço com uma vista incrível. E vai.
Outro pássaro canta. Os pássaros não têm horas para piar. Os cães passam em silêncio, com a boca aberta, cansados, sem amigos. Não sei onde vão. Talvez rodear-se da beleza deste vulcão que é um dos mimos deste país. Durante a caminhada elejo uma árvore o mais longe possível. Quando lá chego, sei que andei uns bons metros. Já vejo fumo e matéria a sair da boca desta chaminé da natureza.

Enquanto olho para tudo isso não ligo à dor que os joelhos começam a sentir. Há uma pausa nas pernas, mas nos olhos não. O corpo fica cheio de olhos, à deriva, à espera da repetição do momento em que as cortinas se abram e saia fumo do cone outra vez. O som, à medida que subo e me aproximo, ouve-se cada vez melhor. É como um rosnar sem ordem: não se sabe o tom da sua nota nem quanto dura. As intermitências do seu ruído são uma ansiedade. Quero que tudo brote, de imediato, outra vez, logo após o repouso das brasas que saem e repousam nas brasas da fumaça anterior.
A partir desta altitude, cerca de 2500 metros, só as plantas mais resistentes sobrevivem, as com menos fragrância, menos cor, as mais insensíveis. Não desisto dos joelhos, mas paro, como quem precisa de respirar, como quem vive, como quem fala com as botas e lhes diz "vão andando que eu já vos apanho". O ritmo da respiração acalma, mas por pouco tempo. O olfato vive, mas aflito. Fotografo o cone. Começo a gravá-lo quando pressinto que vai existir atividade. Às vezes não acontece nada e a gravação fica igualmente imponente. Quando há atividade vulcânica o vento distribui as nuvens de fumo pelo céu, como quer e bem lhe apetece. Chegam a atingir cerca de 5000 metros de altitude. Ainda longe de um encontro físico, fico parado aproximadamente a 200 metros do vulcão. Cheira a lenha queimada. Sinto atrevimento. Depois, saio dali. Regresso ao acampamento base, nos cerca de 3600 metros de altitude. Agora é a descer. Cada escorregadela é um aviso.

Chego cansado. Não sei se chorei pelo caminho ou se chorei o caminho. É tarde. Quem chora já devia estar na cama. Passo a noite acampado a ouvir a barulheira do vulcão. Se fosse a música alta de um vizinho já lhe tinha ido bater à porta. Mas aqui ignoro a possibilidade de dormir bem, porque quero ver tudo. Há muitas estrelas, e não têm medo. Estão deitadas sobre um céu muito próximo do fumo e fogo que vai saindo. Parece que as estrelas e o vulcão assinaram um acordo democrático: as estrelas tapam os ouvidos e o vulcão pode fazer o barulho que quiser.

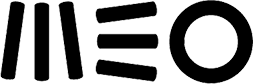

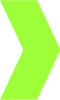
Comentários