
Texto: Carla Lourenço / Fotografia: João Pedro Augusto
No terminal de autocarros, às sete da manhã, ouvíamos em diferido anúncios de destinos. “Arequipa” ecoava mais alto do que todos os outros, numa melodia irritante, repetitiva, que facilmente se estranhava e depois entranhava.
Partimos em direção à fronteira com a Bolívia. As paisagens junto ao lago mantinham os animais selvagens a que já nos tínhamos habituado, mas pintavam-se agora com tons ligeiramente mais verdes. Olhávamos pela janela, decorando as silhuetas das montanhas como se repentinamente tudo fosse desaparecer, como se nos fosse cegar a alma e olvidar-se o coração quando chegássemos à paragem seguinte. Nada aconteceu. Saímos apenas. Um rebanho de gente enfileirada para deixar oficialmente o Peru. Como alpacas sem dono cruzámos a terra de ninguém; bancas de comida e roupa de um e outro lado da estrada aceitavam duas moedas diferentes. Depois do grande arco de pedra, no início de uma rua feita um escorrega, um pequeno edifício com três guichets tinha apenas um ocupante – talvez tivesse dois e eu não me lembro. No embalo que trazia de todos os dias e de todas as horas antes, arrastava os passaportes, apontava para a câmara, olhava-nos nos olhos, pressionava o carimbo e despedia-se com um “Bienvenido”.

Copacabana não foi para nós muito mais do que aquela hora em que o relógio mudou juntamente com a taxa de câmbio. Segui o João até um pequeno restaurante. Do teto caíam bandeiras, das paredes pendiam desenhos a carvão e no ar soava uma banda sonora da década de 90. Na mesa junto à parede, sussurrávamos exclamações saudosistas a cada nova música. Aos primeiros acordes de “Mr. Jones” vi o João petrificar e descongelar logo de seguida para rapidamente agarrar no telemóvel e registar aquele momento. “Esta música. Eu e o meu irmão temos uma cena com esta música. Sempre que a ouvimos, partilhamos um com o outro”, disse-me, quando se cruzou com o meu olhar confuso. Ficámo-nos um pouco em silêncio. Eu sorri como se encolhesse os ombros e pensei “viajámos mais no tempo do que no espaço”.
Circundámos o lago como uma criança que pinta cuidadosamente dentro das linhas. Na página seguinte, em letras pequeninas, junto às casas sem cor, lia-se “San Pedro de Tiquina”. O ilustrador esquecera-se de inventar uma ponte que ligasse os dois desenhos. Restava-nos traçar o caminho, de um lado ao outro. Acercámo-nos da margem onde umas barcaças de madeira vazias, sem lugares para passageiros, balançavam solitariamente. Uma pequena embarcação a motor, que conseguia levar umas 15 pessoas bem encaixadas, a sentirem o calor de quem estava ao lado, fez-nos a travessia em poucos minutos. A receber os navegadores de água doce estava um mercado de rua. Outra vez as pipocas em tamanho duplo, as bolachas como em todo o lado e um restaurante improvisado, a céu aberto.

Ao percorrermos o alcatrão, regressámos ao lago com o olhar e encontrámos as barcaças a atravessar. Com as suas riscas azuis e vermelhas, flutuavam gentilmente pelas águas, como se o vento as empurrasse. Os viajantes que traziam, pesados, não enjoavam. Laranja e vistoso, o nosso autocarro vinha sozinho numa das barcaças, a desafiar várias leis da física. Nós abanávamos a cabeça de incredibilidade. Não é que o conceito de ferry boat nos fosse desconhecido – todos os dias é possível ir de carro, quase em linha reta, da Trafaria a Belém, mas não confiávamos que aquelas nozes gigantes se propusessem a tal façanha.
Deixámos o Tititaca definitivamente para trás e apontámos a bússola imaginária para La Paz. Numa decisão unanimemente fácil, concordámos não ficar naquela que é considerada a capital mais alta do Mundo. Os dias em que os nossos corpos convalesceram fizeram atrasar o calendário e o plano que necessitou de ajustes e improvisos deu preferência a Sucre, que pressentimos ser mais calma, mais doce. Em boa hora confirmámos que os nossos instintos, harmoniosos como sempre, sabiam o que era melhor para nós.
Os subúrbios de La Paz assemelhavam-se a uma estrada que ou parece não acabar ou é circular sem curvas. Da janela víamos repetirem-se as agências funerárias, as oficinas de motas, as frutas deitadas nos passeios, as casas que não terminaram de ser construídas. Se algo de novo se destacava, logo se repetia o caminho por quilómetros e quilómetros. Avulso, como se alguém tivessem deixado cair um saco de lucúmas, os veículos espalhavam-se pela estrada e ultrapassavam-se na queda sem nunca se tocarem. Buzinava-se alternativamente ao uso de piscas, mas não encontrámos nenhum acidente pelo caminho.
Já no limite de onde julgo que começaria a área urbana de La Paz, no topo da colina, vemos à semelhança da plantação de Cusco, uma tapeçaria gigante de casas. Bordados aos quadrados, os edifícios mal se distinguiam à distância – talvez só pelos contornos e pela espessura da linha que os coseu. Era assustadora aquela imensidão de betume que se diz que engole dois milhões de habitantes. Ou grande parte da cidade está desabitada ou os números não parecem bater certo no que se refere ao rácio pessoas-habitações. Não nos preocupámos em confirmar, mas mais tarde fomos forçados a descobrir. Quando a noite chegou, levou-nos à boleia para a cidade que andávamos a namorar desde setembro. Precisávamos de descansar depois de estarmos 24 horas entre autocarros e dois países, e escolhemos a outra capital Boliviana para o fazer. Sim, a Bolívia tem duas capitais.


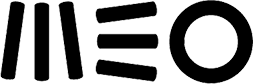

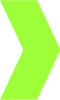
Comentários