
Texto: Carla Lourenço / Fotografia: João Pedro Augusto
Puno estava a acabar de se vestir quando entrámos cidade adentro, sem avisar, sem tocar à campainha. Os cafés com as portas entreabertas foram apanhados desprevenidos, ainda de pijama na sala. Os mercados vestiam as jaquetas coloridas para saírem à rua. Os carros, lentos, colocavam os sacos improvisados às costas, atados ao peito, cheios de tudo o que fosse possível vender. O mapa digital que aumentávamos e diminuíamos no telemóvel mostrava-nos um restaurante vegetariano a cerca de três quadras, e a tradicional Plaza de Armas pouco depois. Convidámo-nos para um banco de jardim de onde vimos pares e trios de polícias numa marcha rápida para o turno diurno. Três cães de rua, vadios, mas devidamente uniformizados para a vida no bairro, estendiam-se no chão como se lhes fosse possível fazer a fotossíntese que as árvores a alguns metros de distância realizavam há anos. Resmungavam na sua língua, ladravam baixinho, mas não mordiam. Como tão bem nos ensinou o ditado.
Oito e meia da manhã e os estômagos esfomeados guiavam-se pelos passeios, à esquerda e à direita, depois sempre em frente. Eu seguia no piloto automático que me habituei a ligar descansadamente sempre que o João assumia o comando. Olhava-lhe para os pés, ou para as mãos que sinalizavam as próximas direções quais piscas humanos. “É aqui”. Parámos em frente a uma pastelaria. As vitrines no rés-do-chão bombardeavam-me os sentidos com todos os sabores que imaginei provar. Um sem fim de açúcar, em diferentes formas, pesos e medidas. Subimos ao primeiro andar e escolhemos uma mesa de madeira com vista para a entrada. Com o monstro a rugir baixinho na barriga, calei as dúvidas todas e pedi uma sobremesa para pequeno-almoço: uma fatia de Selva Negra, repleta de chocolate para acalmar o bicho. O João encomendou-me umas tostadas com marmelada e um chá.
Foi entre levar o copo quente à boca e voltar a pousá-lo no pires que dois rapazes se fizeram notar quando se sentaram atrás de nós. O mais baixo, aloirado, de boné, tinha acabado de pousar no chão uma câmara de filmar. O outro, procurava a empregada com o olhar. “Aquela câmara que ali está vale uns 75 mil euros”. Vi nos olhos do João formularem-se questões sobre os forasteiros: o que faziam ali, de onde vinham e porque raio se passeavam com aquela tecnicidade nesta cidade perdida à beira lago. Começou por se virar para trás, com o cotovelo direito pendurado no recosto da cadeira, enquanto dava os bons dias, mas pouco depois já estava de pé, entusiasmado, a trocar nomes, ideias, orçamentos, perfis das redes sociais. “Bro, have you shoot for Maserati?” – perguntavam-lhe. Eu, que já tinha acabado a minha fatia de bolo, deliciava-me com a energia do João. Ouvia-o atentamente, admirava-o – admiro-o, sempre. Estava de fora a vê-lo encher aquela saleta de primeiro andar com a simpatia e humildade que o caracterizam. Eu estava completamente rendida e os rapazes também.
À uma e meia, como combinado, estávamos no Puerto Kalapajra à espera do nosso anfitrião. A estrada de alcatrão derrapa para uma descida de terra batida que termina na água, entregando quem vem ao Lago Titicaca. O Nestor chegou no seu barco de madeira a motor por um dos canais. O chapéu de palha protegia-lhe a pele já escura do sol, que dava cor à tradicional camisola amarela riscada pelo colete avermelhado. Cumprimentou-nos timidamente, como o terá feito a todos os outros antes de nós. À proa, traçada de rosa e vermelho dormitava uma senhora a quem não cheguei a perguntar o nome. Também ela de chapéu. Também ela vencida pelo sol. Encaixava-se ali, entre três azuis – o do barco, o do lago e do céu – como uma pintura viva.


Deslizámos canal adentro, rente às totoras que se levantavam em grandes agrupamentos verdes. A 3800 m de altitude, o lago navegável mais alto do mundo levava-me de volta às origens algarvias, a uma Ria Formosa em tudo diferente e igual. Não vi colhereiros nem flamingos como em casa, mas ouvi a Natureza chamar. Senti o vento a correr e os salpicos de água fria que se juntavam a nós. Tentando sobrepor-se ao motor do barco, o Nestor falou-me da comunidade que o viu nascer e crescer: os Uros. Contou-me que ali se mantêm dezenas de ilhas flutuantes feitas de totora; que há um enfermeiro que vem todas as semanas; que uma das ilhas alberga a escola básica; que numa só ilha podem coexistir várias famílias; que assim se mantêm: num limbo entre as tradições e as vivências do passado e as tecnologias do presente – o turismo assim o exige.
A viagem durou cerca de 30 minutos. Atracámos. À nossa espera tínhamos uma cabana elevada, de madeira, com um pequeno alpendre ao nível da água. Descansavam nele um chapéu de sol e uma cadeira, também ela de madeira. De uma das pontas da ilha chegou-nos a Ana, a mulher do Nestor. Recatada, tímida, como a vida no Lago a tinha moldado. Vi-a descalça, com os pés a enterrarem-se na totora sem se queixarem. As duas tranças compridas caiam-lhe nas costas, simetricamente enlaçadas, pretas como o chocolate.
Se quiséssemos, daríamos a volta à ilha tão rápido como o Principezinho o faria no seu planeta e, mesmo assim, não o chegámos a fazer. Deitámo-nos antes no chão ondulante e incerto, com os braços a taparem os olhos. Deixámo-nos aquecer. O João jurava ouvir animais que não as aves que bicavam o espelho de água à procura de alimento. Anunciou-me que iria até à cabana e foi lá que o encontrei mais tarde. Adormecido, sem aviso prévio, deixou as pernas caídas pela cama até ao chão com uma respiração pesada que ecoava baixinho. Aquele corpo ressentia-se do mal de altitude e eu deixei-o descansar.

Explorei os cantos à casa-ilha: em poucas centenas de metros quadrados encontrávamos uma cabana em construção ao lado da nossa e outra já terminada, a casa de banho seca ao ar livre, a cabana do pequeno-almoço, a cabana do jantar, o chuveiro comum, aquecido a energia solar - onde um simples duche se transformava num teste de equilibrismo. No lado de lá da ilha encontravam-se as cabanas mais pequenas e rudimentares do que a nossa. Talvez não chegassem aos 10 m2 e acomodavam famílias inteiras, que dormiam cabeça com pés, contornando as paredes. No nosso lado fui encontrar um gato castanho riscado, arisco, que vinha sempre às minhas pernas. Devo tê-lo chamado de Ricardo, como aos gatos que vagueiam junto à Praceta Leonor d’Eça, na Caparica. Não sei se veio pelo nome ou pela curiosidade, e nunca saberei.
Na nossa cabana o João não melhorava: os olhos verdes estavam cansados e o cabelo desistira há muito de se organizar. Encontrei-o na minha cama, mais protegida do ar que entrava pelas frechas sem ser convidado. Deixou-se convencer a deitar-se até ao jantar, a ficar em silêncio com o chá que lhe trouxe. Contemplava os barcos que passavam em frente à janela, enquanto lia sobre a vida de von Humboldt. Abandonei os sapatos e a vergonha e procurei a Ana. Disse-lhe que gostaríamos de jantar, quando lhes fosse conveniente, e que me juntaria a ela nas preparações, se ela concordasse. Assentiu.
Pouco depois das seis, sentámo-nos na cozinha – o chão tinha espaço para duas pessoas bem encolhidinhas. No teto uma lâmpada pequena iluminava o espaço atabalhoado e quente. Ofereceu-me um pequeno banco, a um dos cantos e enrolou-se ao meu lado, quase junto à porta. À nossa frente, a estrutura de ferro, onde assentavam dois bicos ligados a uma botija exterior, tinha já um tacho ao lume para o arroz. Passou-me uma faca e responsabilizou-me pelas cenouras e pelas batatas: preparei-as sob as suas indicações. Entre cortes e ajustes ao lume, fomos cozinhando a conversa. Ela, pouco mais velha que eu, com seis ou sete irmãos e irmãs espalhados pelas ilhas. Quis saber da minha mãe e disse-me que a dela lhe morreu cedo. Foi criada pela avó, que ainda está viva e vê crescer os dois bisnetos. Nunca foi mais longe do que Puno e eu vinha quase do outro lado do mundo. Deixou-me uns minutos sozinha, embalada pelo gás que ardia. Trouxe as trutas num alguidar apanhadas no lago, escaladas, e mergulhou-as no óleo já quente. Provavelmente sem noção da localização geográfica de Portugal, perguntou se comíamos peixe e que peixe comíamos. As batatas fritas estavam prontas. O tacho do arroz enrolou-o numa manta e deixou-o no chão entre nós. Passou-me um tabuleiro e dois pratos que desencantou da estante bamboleante atrás de mim. Encheu-os à boa moda peruana e sem aceitar que jantássemos todos juntos apontou-me para a cabana ao lado. Pousei tudo e fui buscar o João para jantar. Contei-lhe sobre o que vivera naqueles dois m2 de histórias, enquanto ele misturava a truta com os brócolos. Eu sabia que o jantar era simples e estava longe de competir em qualidade com os restaurantes a que tínhamos ido, mas quando cruzei olhares com o João não me restaram dúvidas: não há melhor condimento do que o amor.

“Cada ilha tem cerca de 12 pontos de ancoragem, que a ligam a outras ilhas e à costa” – explicava o Nestor, no chão de totora, onde me sentei de pernas cruzadas e olhar atento. Depois continuou: “A cada 15 dias temos de renovar a ilha. Levantamos as casas e colocamos mais totora por baixo. Cada três metros de totora espalmados equivalem a um metro de espessura.” Assim é a vida nas ilhas flutuantes: em constante movimento, apesar de parecer que paramos no tempo quando lá estamos. O Nestor trocou umas palavras em Aimará com a Ana, mostrou-nos as tapeçarias que as mulheres fazem, falou-nos dos barcos turísticos que intitulam carinhosamente de BMW e deixou-nos em silêncio. Ia encaminhar para um grande barco o casal de meia idade, escritores e nómadas digitais, e os dois rapazes peruanos com quem nos cruzámos ao pequeno-almoço. Estivemos pouco mais de uma hora à conversa, os seis. Entre o chá e a as pipocas gigantes que eu levava à boca ainda ensonada discutia-se política internacional. O rapaz que vestia um casaco desportivo dos Jogos Panamericanos de 2019 desenrolava o novelo de corrupção governamental: todos os presidentes peruanos foram investigados por crimes e acabaram na prisão. Falou-se do cenário mexicano, da vida difícil dos países sul-americanos, da inflação, das migrações. Teme-se o futuro pelas experiências do passado. O João deu uma achega europeia com os tristes exemplos portugueses. Pouco depois das oito e meia, com vista para as pequenas aves que pousavam na totora junto à água, dissolveu-se o conselho internacional, partindo cada par por um caminho diferente. Trocaram-se contactos à pressa, à porta da nossa cabana. “Um dia que queiram ir ao México, escrevam-nos”. “Assim o faremos” – pensei.
Antes de partirmos para Puno procurei o abraço tímido da Ana. Despedimo-nos embaraçosamente, com rituais diferentes que não coincidiam. Um corpo que se chega a outro, um aceno de cabeça. Pensei no colar que lhe tinha oferecido na noite anterior e que mais tarde vi o Ronaldinho, o filho mais novo, usar. Deixei-lhe uma parte de mim, que nunca será comparável ao que ela me deu.


A cidade deixou-nos descansar nos seus braços. Trouxe-nos um chá e um chocolate quente para a mesa. Abotoou-nos os casacos quando o vento vinha de frente e aconchegou-nos as mantas enquanto víamos o Tejo pelo pequeno ecrã. Fez-nos uma sopa e convidou a fanfarra para se despedir de nós. Ainda fomos a tempo de ver os raios de sol matutinos no quinto andar. Despedíamo-nos mais uma vez, para começarmos de novo.

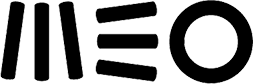

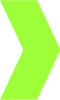
Comentários