
Tínhamos saído da casa do meu pai a correr como dois amantes em fuga. Eram duas e meia da manhã. O taxista estava à porta, pontualíssimo, e não nos podíamos atrasar. A gare era já ali ao virar da esquina. Se fosse em Lisboa teria ido a pé, mas estava em Quelimane, e no terceiro mundo nunca sabes.
Chegamos à gare. Havia gente de um lado para o outro. Malas, cestos, galinhas, marmitas, e sei lá mais o quê. Nós íamos de mochila às costas e máquina fotográfica ao peito, como um típico casal de turistas do primeiro mundo.
Já tínhamos comprado os bilhetes na tarde do dia anterior. O autocarro estava estacionado no mesmo sítio em que compramos os bilhetes - lá compram-se os bilhetes diretamente ao motorista. Entrámos, e lá fomos, rumo ao paraíso.
Mal entrei no autocarro senti-me desiludida. Era antigo. Parecia um daqueles autocarros locais que ainda existem em algumas aldeias do interior. Os bancos eram duros, pouco almofadados, daqueles que nos dizem: “não se acomode, viagem curta”. Para tristeza nossa, a viagem seria longa, 700 km. Era a distância até Nampula. Ainda era noite, mas em breve o sol iria raiar, e a temperatura aumentar. Não havia ar condicionado.
Naquele momento só queria adormecer. Estava nervosa, mas também não o queria demonstrar. “Vai tudo correr bem”, repetia a mim mesma. Estava difícil de acreditar. À memória só me vinha o eco das vozes daqueles pseudo locais, os tugas de Quelimane, senhores de Portugal com sotaque quelimanense. “Vão perder o vosso voo”. “Vocês não estão na Europa”. “Vão ter de passar cá o Natal”.
Era 5 de Dezembro e o meu voo de volta estava marcado para dia 12. Não eram dias suficientes para conseguir chegar ao aeroporto de Maputo para voltar para Lisboa, apesar de me encontrar a 1564 km de distância?
Mas os locais insistiam. “Isto não é a Europa”. E nós sabíamos que não era. Se não estaria frio. Muito frio. E estava calor, tanto, que só queríamos chegar ao paraíso. Até lá, 15 horas de estrada. Onze até Nampula, depois mais três, segundo acreditávamos, de chapa.
O “expresso” não ia muito cheio e não havia muito barulho. Estava difícil encontrar algum conforto para dormir naqueles bancos. A ideia era dormir durante a viagem, pelo menos enquanto estivesse noite. Depois esperava ver a paisagem. Talvez até alguma vida animal.
Adormeci. Acordei pouco tempo depois. O autocarro tinha parado e o motorista saído. “Queres ver? Furou-se um pneu? Não há nada à volta. Como vamos sair desta? Bem que eles tinham razão.”, pensei eu. Abri a velha cortina da janela e espreitei lá para fora. Era uma paragem. Começava a entrar mais gente.
Mais descansada, decidi voltar a dormir. Os bancos não tinham cinto, notei. O autocarro começava a ficar cheio, e o sol já estava a nascer. Tinha que conseguir dormir. Não tarda, ia começar a ficar quente. Dormir seria impossível.
Outra paragem, mais gente. Já não existiam lugares para todos. Olhei ao meu redor e havia gente sentada no degrau para o banco de trás. “Corajosos”, pensei. Se já era desconfortável viajar naqueles bancos, quanto mais num degrau. A viagem até ao paraíso, de repente, pareceu tornar-se mais longa. Paragens a mais. Aquilo não era um expresso.
Todos procuravam um lugar, um espaço para se sentarem. O problema é que já não existiam mais lugares, mas o motorista deixava todos entrarem.
Faltava uma menina sentar-se. Ia encostada ao banco da mãe, onde iam sentados uns três adultos. A menina não podia ir em pé a viagem toda. Era perigoso para além de cansativo.
Solução do motorista? Colo do meu namorado. Eu ia sentada à janela e o meu namorado ao lado. Quando olhei, estava a criança "muda" no colo do meu namorado e o motorista já lá à frente a conduzir. Olhámos um para o outro, mas parece que aquilo foi estranho só para nós.
Desatei a rir. Para que a menina não fosse a viagem toda sentada ao colo, encolhemo-nos e cedemos algum espaço. A menina sentou-se na ponta, o meu namorado no meio, e eu acabei por ficar meio de lado, colada à janela. A menina ia em silencio, séria, a olhar só para a frente. Eu ia torta, com calor e a rezar que chegássemos ao destino. Não cheguei a saber o nome da menina.
Já suávamos por todos os poros. Felizmente, as estradas não eram muito más e não sentimos os buracos. Algo que receávamos. Lá fora, havia uma imensidão de verde, a lembrar a riqueza paisagística de Moçambique.
A viagem parecia não ter fim. Já não conseguia dormir e nem podia beber água, pois não existiam casas de banho. Era só uma preocupação nossa - minha e do meu namorado - o resto da malta ia a beber água, refrigerantes, e até cerveja.
Já era dia e os passageiros iam todos animados. No autocarro ouvia-se música do século passado, kizombas velhas que me recordavam a infância, parecia que lá o tempo tinha parado. Depois, existíamos nós os três, a menina muda sempre a olhar para a frente, o meu namorado, um português ali no meio dos moçambicanos a sofrer com o calor, e eu torta, a procurar uma melhor posição para aliviar as dores nas costas.
Depressa os efeitos dos líquidos começaram a manifestar-se, e a malta, claro, a correr até ao motorista para que fizesse uma paragem. De cinco a dez minutos, nova paragem. Lá ia um senhor ou uma senhora a correr para trás de um pedregulho ou arbusto para fazer xixi. Por vezes, iam em grupos. Da janela via o pessoal a correr, à procura de um lugar escondido. Era sempre mais complicado para as senhoras. Mas elas corriam de capulana até mais longe.
Depois de quase todo o autocarro ter ido à “casa de banho”, comecei a ter esperança de que em breve chegaria a Nampula. Agora já sem paragens. Ingenuidade da minha parte. Nova paragem. E enquanto saía e entrava nova gente, reparo que existem vendedores ambulantes a vender cerveja e refrigerantes nas janelas. E claro, a malta a comprar. Oh, não! Pedi ao meu namorado para me beliscar, queria acordar daquele pesadelo, mas não, era real. A viagem parecia não ter fim, e lá íamos os três, a muda, o suado e a torta.
Quando chegámos a Nampula nem quis acreditar. Saí do autocarro como que de uma batalha. Queria um banho, estava suada, não sentia o corpo. Senti-me melhor quando olhei para o meu namorado. Parecia que vinha do concurso mister t-shirt molhada. Tinha a roupa colada ao corpo.
A gare onde paramos era uma confusão. Muita gente, muitos autocarros, taxistas e vendedores. Era meio- dia, precisávamos de encontrar o chapa que nos ia levar até ao paraíso. Se tudo corresse bem, dali a três, quatro horas, estaríamos no nosso destino, Ilha de Moçambique.
Mas estávamos saturados. A ideia de viajar três horas, agora num chapa, talvez em pé, com o calor, colados a não sei quantas pessoas, parecia-nos cada vez pior. Um taxista ofereceu os seus serviços, mas ficámos reticentes. Não conhecíamos os preços e não queríamos ser enganados.
De repente, surge um polícia. Pede-nos os documentos. Tiramos os passaportes e mostramos os vistos. O polícia não se convence. Fica a procura de algo para nos lixar, parecia. Tento a minha sorte e digo que sou de Quelimane para ver se o despachávamos - tínhamos tudo correto, mas também não queríamos estar ali a perder tempo. O polícia muda a atitude.
Explicamos ao polícia que queríamos apanhar o chapa para a Ilha de Moçambique. Surge outro motorista a oferecer os seus serviços, hesitamos, mas o polícia sugere que aceitemos, com a expressão que, talvez, fosse a nossa melhor opção. Negociamos o preço e seguimos viagem com o tal motorista, Abdul, um jovem de Nampula, muçulmano que mal sabia falar português. Pergunta se pode levar o amigo para lhe fazer companhia na viagem de regresso. Aceitamos.
Seguimos viagem até à Ilha de Moçambique agora confortáveis. Ar fresco, espaço e conforto. A paisagem até parecia mais bonita. Já sorria. Sentia uma vibração agradável no ar. O Abdul era simpático e nós estávamos quase, quase a chegar à Ilha de Moçambique.
O Abdul indicou-nos o hotel Villa Sands, na altura recente, quase sem hóspedes. Ofereceram-nos o melhor quarto com vista panorâmica, a pensar em casais em lua de mel, ao preço de quarto normal e de época baixa.
A simpatia morava ali e alastrava-se por toda a ilha. Pousamos as malas no maravilhoso quarto, abrimos as janelas e deliciámo-nos com a vista. A Ilha de Moçambique é linda, um lugar único, um verdadeiro paraíso graças à sua beleza selvagem, natural, sem manipulação do homem.
Olhei para o meu namorado e senti naquele momento que toda aquela viagem tinha valido a pena. Ele tinha uma lágrima no canto do olho de emoção. Aquele lugar era mágico, inigualável. Afinal, que lugar ou paisagem é capaz de derramar uma lágrima feliz num homem?

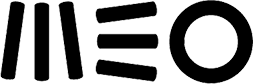

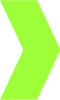
Comentários