
Texto: Carla Lourenço / Fotografia: João Pedro Augusto
Com uma aparência insistentemente colonialista, Sucre não deixa passar despercebidas as suas origens. Foi fundada pelos espanhóis em 1538, sendo apelidada de Ciudad de la Plata de la Nueva Toledo. Trezentos anos depois, o nome muda em honra ao líder e filho da luta pela independência Antonio Jose de Sucre e a cidade torna-se a capital boliviana. Hoje continua a sê-lo, apesar de dividir o estatuto com a sua irmã La Paz.
O hostel que escolhemos acomodava-se num edifício claramente colonial. O grande pátio quadrado, no rés do chão, recebia um lance de escadas que terminava num varandim também ele quadrangular, no primeiro andar. As portas de madeira abriam-se aos pares, exaustas das chaves que se forçavam nas fechaduras também elas antigas e cansadas. Uma porta de vidro revelava um segundo pátio, a céu aberto, escuro, que ameaçava chover. Ainda assim, fomos para a rua.

Cruzámos pouco mais do que uma ou duas quadras quando começámos a descer em direção à praça central. A arquitetura estava despida de pessoas. Estranhámos. Estávamos habituados ao caos vindo de todos os sentidos: das bocas de vendedoras de rua, das motas a rasar os passeios, dos carros que buzinavam para ultrapassar. Sentíamos o branco da cidade como se fosse fantasmagórico. Depois percebemos o porquê. A reunião era mais à frente. Nos passeios, cabeças atropelando cabeças espreitavam os carros de rolamentos que desciam a alta velocidade. Duas pessoas em cada viatura: uma sentada a conduzir, outra de pé a impulsionar com o peso de um corpo que pedia ajuda à gravidade para rolar mais rápido. As buzinas com os seus uivos originais agradeciam as palmas ao derraparem nas curvas apertadas. Era domingo de festa e nós, para não variar, tínhamos chegado ligeiramente atrasados.

Na outra ponta da pequena praça - semelhante a tantas outras nos bancos, nas estátuas ao centro, nos pombos incontáveis – arco-íris humanos desfilavam e segredavam. Alinhavam as saias, ajeitavam o cabelo, endireitavam os chapéus, davam as mãos. Depois, ao som da tradição, abandonavam o mundo terreno e dançavam como anjos apaixonados, agitando lenços brancos aos céus. No círculo que se criara à sua volta, as mãos acompanhavam os ritmos bolivianos e a coreografia era uma só.
Quando olhei em volta, tinha já perdido o João. Descansei-me pensando que ele estaria algures a filmar, absorto apenas no Mundo que traz dentro de si. Como seria de esperar, vi a mochila vermelha chegar pouco tempo depois, os olhos verdes, sorridentes, em silêncio. Fomos deambulando sem regra ou destino específico até a chuva nos empurrar para um café de esquina, com um letreiro delicioso à porta. Entrámos de dia e já só de lá saímos de noite. Quisemos aconchegar-nos no canto, junto à janela, com as bebidas quentes que nos trouxeram depois. A sala quase vazia presenteava-nos com uma banda sonora que poderia ter sido curada por mim ou pelo João: um indie alternativo que dava uma nova roupagem a músicas gastas de passar na rádio. Quem nos observasse ao longe, tão alheados do mundo, diria que éramos cúmplices desse crime que é plantar o amor verdadeiro no coração do outro. Sem que nos pedissem ou nos obrigassem, declarámo-nos culpados.
No varandim do primeiro andar, o quarto central era o nosso. Nos seus mais de 30m2, o soalho de madeira rangia nervoso se o pisássemos descuidadamente. Em cantos opostos, uma cama grande fazia frente a um beliche demasiadamente alto. Foi lá que dormirmos, embalados pela festa que acontecia no rés do chão. Foi lá que planeámos os dias seguintes, comigo encaracolada aos pés da cama do João. E foi de lá que voámos empolgados diretos para um pequeno-almoço sem limite, onde repetíamos os cereais, a fruta já cortada, o pão que fazia lembrar Portugal, o iogurte, o chá e o chocolate quente - sempre o chocolate quente.
Subimos o fecho dos casacos, apertei o rabo de cavalo, olhámos para os dois lados e partimos em corrida. A uma segunda-feira a cidade era outra. As portas e janelas já não se deixavam fechadas e as pessoas subiam e desciam consoante o destino. Na nossa passada rápida contornámos quem nos via aproximar ao longe. Deixámos a Plaza de Armas para trás e seguimos sempre em frente, em direção ao Parque Simon Bolívar. As árvores, altas, faziam guarda a uma torre de metal, avermelhada, na zona central, e mais tarde abriram-nos caminho para a ponta arredondada do parque, com uma grande fonte também ela redonda. Estávamos a 2800 m de altitude, mas a facilidade com que treinávamos denunciava dois corpos já habituados a estar longe do nível médio do mar.

Ao início da tarde, fomos encontrar, num passeio mais largo do que o normal, um punhado de nacionalidades sentadas e encostadas a bancos. Repetiram os nomes à nossa chegada e nós fizemos-lhes saber os nossos. Pouco depois, estávamos a entrar num pequeno autocarro capaz de levar pouco mais de 15 pessoas. Sentei-me de frente para a porta, que se manteve permanentemente aberta e meti conversa com o guia que nos ia levar pela cidade. Fui interrompida pela paragem abrupta no topo da rua. Saímos para percorrer a calle Gato Pardo, tradicionalmente maquilhada de branco quando chega a altura das festas, e as ruas que lhe são perpendiculares, também elas com inspiração felina. Do miradouro da Recoleta, debaixo de um telheiro comprido, vimos toda a cidade; as montanhas ao fundo a espreitarem envergonhadas – como se tivessem medo que nos esquecêssemos delas. Percorremos ruas que já conhecíamos, visitámos uma galeria de arte indígena, pisámos o palco de um dos teatros da Universidade, deambulámos no mercado central – tão semelhante ao de Cusco – e terminámos, sem qualquer surpresa – porque as nuvens tanto ameaçaram – debaixo de uma chuva que nos fez despedirmo-nos à pressa uns dos outros.
A poucos quilómetros do centro de Sucre, na estrada que a liga a Cochabamba, encontra-se uma cimenteira em funcionamento. Reza a lenda que interesses económicos vindos do estrangeiro levaram a que se começasse a explorar e perfurar o solo para extração de calcário e outros compostos rochosos. Em 1994, o que poderiam ser dias normais de trabalho envoltos em pó revelaram-se um marco para a história da paleontologia na Bolívia – e na América do Sul. Descobriram numa das paredes de calcário mais de 5000 pegadas de dinossauros, distribuídas por mais de 450 trilhos. Impecavelmente preservadas, estendendo-se ao longo de várias dezenas de metros de altura e um quilómetro e meio de extensão, as pegadas transportam-nos para o Cretácico Superior, imediatamente antes da extinção em massa dos dinossauros – há cerca de 66 milhões de anos.

O autocarro abandonou a estrada principal e descansou num pequeno estacionamento de terra batida. Dali conseguíamos ver uma parede – que ao longo de milhões de anos se verticalizou – salpicada de grandes marcas arredondadas. As famosas pegadas. Entrámos no Parque Cretácico, anunciado com uma grande cabeça de Tyranossaurus rex na bilheteira, e vagueámos curiosos por entre as réplicas de dinossauros que íamos encontrando no caminho. O percurso terminou num espaço aberto, alto, com vista para as montanhas. Esperavam-nos os capacetes vermelhos, prontos para a descida pedregosa, guiada com todos os cuidados. Vagarosamente entrámos por nuvens de pós assentes no chão, e formando uma fila ordeira aproximámo-nos da grande parede sem lhe tocar. A rocha via-se amolgada vezes e vezes sem conta, por grandes patas que ali passaram e se enterraram há milhões de anos. De olhos fechados, imaginei os gigantes saurópodes com os seus longos pescoços passeando em manadas nas orlas do lago que ali se pensa ter existido. Uma ou outra cria por entre as pernas adultas. Talvez se tenham cruzado com os temíveis terópodes que estudavam as próximas vítimas, ou com os anquilossauros que desfilavam as suas armaduras por entre os fenos e as árvores pré-históricas. Fosse como fosse, era o passado ali bem presente.

Restavam-nos poucas horas em Sucre e não tínhamos ainda visitado um dos ex-libris da cidade. O relógio dizia-nos que o sol não tardaria a despedir-se; não haveria melhor altura para visitar o Convento de San Felipe de Neri senão quando os últimos raios de sol chegam de viagem. Encontrámo-lo perdido numa rua. Entrámos por uma porta pesada de madeira e fomos guiados para um largo pátio aberto, um claustro branco espaçoso do século XVII, com os seus arcos bordados a detalhes. Ao longe, ouvíamos as vozes de quem lá estuda; nas paredes, víamos as regras para quem lá vive. Uma das salas que visitámos estava envolta em tons vermelho-escuro, com quadros das figuras religiosas de maior renome para o Convento. Os cânticos antigos ainda ecoavam nas paredes, como memórias.
A escadaria de um dos cantos do claustro levou-nos em direção ao céu. Abriu-se para uma planície de nuvens, feita de um chão de mosaicos verdejantes e telhas alaranjadas. Estávamos nos telhados do templo, que mais pareciam grandes terraços – com muros a servir de bancos. Dali era possível ver toda a cidade, deitada a nossos pés. O sol descia rapidamente, com pressa para também ele se deitar. O João não largava a câmara nem por nada. Vi-o registar todos os ângulos, todas as sombras, todos os contrastes daquele fim de dia. Pediu-me que me imobilizasse para eternizar aqueles minutos de descanso, sentada de pernas cruzadas, o olhar nas montanhas longínquas. Um último lance de escadas estreito, colado a uma parede, expande-se para o topo do telhado: o campanário com as suas torres altas que abraçam um sino muito gasto. Como nós, circulavam outras pessoas; fotografavam-se em vários modos e posições. Como nós, pisavam as cúpulas do convento cuidadosamente. Desceram e deixaram-nos sós, como se soubessem que as despedidas querem-se privadas, intimistas. O fim do dia era nosso: sentámo-nos à vez, no muro a vários metros de altura, a ver os tons avermelhados de um céu que em breve seria preto. Contemplámos a tranquilidade celestial, quase divina, em que mergulhámos e assim permanecemos até uns passos apressados chegarem ao telhado mais alto e gritarem em espanhol: “têm de sair, o Convento vai fechar”.


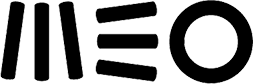

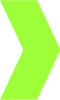
Comentários