
Texto: Carla Lourenço / Fotografia: João Pedro Augusto
Acordei na cama errada. Tantos argumentos para convencer o João a ficar com a melhor das duas e acabei por adormecer de cansaço, enquanto víamos no telemóvel uma série sobre um agente duplo Iraniano. Memórias baças apareceram-me faiscadas, como pequenos relâmpagos secos, e eu vi-o trocar para a cama pequena. Tapou-me e deixou-me ficar inerte, vivendo aventuras noutros vales.
Resumiu-me o episódio a caminho da Rua Caracoles, pacientemente, debaixo do sol que se previa quente, e respondeu-me a todas as perguntas. Olhou para o céu azul, sem nuvens, preguiçoso e fez contas aos quilómetros que iríamos percorrer. Cerca de 24. Ao pequeno-almoço, por entre ovos, cereais e torradas - como as paredes amarelas que perfaziam o pátio, relembrámos o plano de conhecer o Vale da Lua durante a manhã e o céu do Hemisfério Sul durante a noite. Habituado que está a percorrer a Serra de Sintra de bicicleta, comprometeu-se o João a escolher-nos os melhores veículos de duas rodas não motorizados. Eu estava na mercearia ao lado, sob um olhar atento chileno, dividida entres dois pacotes de bolachas de chocolate. Lá me decidi, finalmente, pelo que continha mais unidades.
O João já me esperava com as duas bicicletas. Colocámos os capacetes, vestimos os coletes refletores e seguimos pelas ruas de terra batida, zigzagueando as poucas pessoas que domingavam a meio da manhã. À minha frente, um pouco distante, o João ia gritando indicações sobre as mudanças. Uma verborreia matemática que se traduzia em várias combinações possíveis - muitas delas excessivas para as minhas pernas. “Um à esquerda, três à direita. Agora quatro à direita." Ouvia-lhe as indicações, ainda que nem sempre as aplicasse.

Quando finalmente nos afastamos de San Pedro, a estrada transforma-se num asfalto infinito e plano que se estende em direção aos vulcões montanhosos. É-o assim para qualquer alma que se aventure pelo Deserto do Atacama. As pernas que os calções desprotegiam impulsionavam-nos a toda a velocidade, e sem que déssemos por isso estávamos no Valle de la Luna. A paisagem de um vermelho marciano, impávido e sereno, repetia-se exaustivamente. Dentro do nosso planeta explorávamos o quarto calhau a contar do sol. O chão pedregoso obrigava-me a saltar do selim e eu via-me, novamente com 12 anos, dentro das aventuras que só lia nos livros de fantasia. Inclinei o corpo para a frente - o vento a limpar-me os cabelos da cara -, deslizei as mãos transpiradas pelo guiador, semicerrei os olhos e acelerei. Os joelhos subiam alternadamente, com ligeireza, para me fazerem expedita, e no momento em que a adrenalina subiu e eu inspirei fundo notei que o medo ficara para trás, quando virei à esquerda. A curva apertada abriu-se mais à frente para um caminho plano que custei a alcançar e subir. O João perseguia-me, orgulhoso. Acima de tudo, feliz. Frequentemente deixava escapar um sorriso, doce como os chupa-chupas que eu fui comendo pelo caminho, e soltava palavras de encorajamento quando eu reclamava alto já não conseguir estar sentada num selim trepidante que massajava à pedrada os músculos que sustentavam o meu corpo.
O sol que prevíramos quente mantinha-nos debaixo de olho, atento, não fôssemos nós perder-nos naquele mar de areia vermelha. Chamam-lhe Vale da Lua, mas mais do que a paisagem lunar amarela-esbranquiçada, o cenário faz de nós astronautas e transporta-nos para Marte. Subimos, vagarosamente, as dunas montanhosas. Encontrámos cavernas cristalizadas. Avistámos as Três Marias e algumas crateras. Ao longe, o vulcão Licacabur posava irrepreensivelmente bem nas fotografias. Em todas. De qualquer ângulo. Eu sentava-me ao seu lado, fingindo um ar leve e despercebido, como o João pedia. Mas não conseguia. Tapava a vista com o sol, a mão direita côncava em frente aos olhos que teimava em não manter abertos. Se ao menos não tivesse perdido os óculos de sol no autocarro a caminho de Cusco…
À nossa frente estendiam-se anfiteatros de formações rochosas, moldadas pelas mãos macias do vento e da água, como se fossem vasos de barro que giraram continuamente durante milhões de anos nos dedos de um oleiro. Do topo mais alto que encontrámos antes de sucumbirmos ao calor, olhámos a infinitude desértica. Para além das nossas bocas que arfavam baixinho, só o silêncio se ouvia.
Perdemos a noção do tempo no Atacama, julgando que também as horas eram infinitas. O João abrigou-me debaixo do braço e confessou-me um orgulho fraterno, de quem ensina a irmã mais nova a andar de bicicleta - só que eu já sabia andar. Não sabia, no entanto, que um simples pedalar acompanhado no deserto mais seco de todo o planeta o faria tão feliz. Estava, assim, desculpado todo o terreno acidentado e todas as dores de pernas que estariam para vir. E justificava-se, também, a pizza e os gelados que devorámos a caminho de casa. A noite não tardou a chegar. Veio desorientada, percorrendo a Caracoles para cima e para baixo, sem encontrar o ponto de encontro marcado para as 21h00. Ouvíamos na rua várias línguas e vários sotaques, juntos e misturados, mais o baterista que tocava como se ninguém o estivesse a escutar. Eu já só prestava atenção ao meu coração que palpitava acelerado, como se estivéssemos de volta aos 5000m da Vinicunca. Alternava entre minutos de introspeção e calmaria e a excitação de ir ver, finalmente, passados tantos anos a pedir às estrelas do Hemisfério Norte, o céu do Hemisfério Sul.
Caminhámos em grupo por um terreno apagado, a poucos minutos de San Pedro. Junto ao chão, duas filas de pequenas luzes vermelhas indicavam o caminho até um grande e redondo espelho de água - igual ao que os indígenas usavam no passado para estudar o cosmos. O nosso guia, o Rodrigo, falava das estrelas com a mesma paixão que eu falo do mar. Ouvi-o deliciada, abraçando os joelhos contra o peito enquanto os meus olhos se fixavam no braço da Via Láctea que descia em direção às árvores. As estrelas refletiam-se nos seus óculos redondos, e eu sorri. Sussurrei ao João a pergunta à qual já tinha resposta - se ele estava a gostar. “Muito”.
O Rodrigo tinha já começado a explicar as disposições estelares, as galáxias, a rotação do nosso planeta e dos outros. Perguntou ao grupo se alguém reconhecia ou conseguia identificar algo. Levantou-se de imediato, apressada, uma mão fria, que não chegou a ser vista na escuridão, e a minha boca clamou com entusiasmo “Escorpião!”. Imaginei o Rodrigo a sorrir antes de nos ter perguntado se havia algum outro objeto reconhecível no céu. Voltei a rasgar o silêncio do grupo, como se chamasse pelo Deus romano pelo qual ficou batizado: Júpiter. Acertara, mais uma vez. Voltara a ser criança e estava naquela que era a maior loja de doces do mundo.
O laser verde do astrónomo apontava às gomas em forma de Triângulo, aos Peixes de chocolates, aos rebuçados que juntos lembravam um Golfinho ou um cavalo alado chamado Pégaso, às petazetas que deitávamos num semi-círculo na língua como uma Corona Australis, e às duas irresistíveis nuvens de algodão doce de Magalhães. Dando-nos a ilusão de tudo girar à nossa volta, como se fôssemos o centro do Universo, o céu ia rodando em torno das nossas cabeças. Escorpião deitara-se entretanto, e outras constelações subiram pelas minhas costas. Passeámos embrulhados em casacos e mantas junto ao espelho de água, com a chávena de chocolate quente na única mão disponível. Subimos ao telescópio para ver os anéis que Saturno usa para se embelezar e as luas que orbitam como paparazzi em torno de Júpiter. Gulosa, como sempre, fui devorando os pequenos alfajores que por coincidência cósmica eram deixados na mesa. Guardei outros tantos no bolso para quando a saudade - mais do que a fome - apertasse. O frio da noite não conseguia competir com o calor que emanávamos quando nos sentámos, lado a lado, no autocarro, para regressar a San Pedro. O último dos desejos da lista intitulada “América do Sul” estava concretizado. Todo o Universo conspirara a nosso favor.


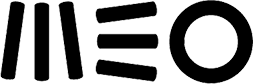

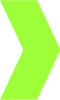
Comentários