
A Sarah e o Rui são dois apaixonados por viagens que escrevem sobre as suas experiências no blog Atlas de Bolso. Aceitaram partilhar connosco as suas impressões do Fagradalsfjall, um vulcão a 40 quilómetros da capital islandesa, que entrou novamente em erupção no dia 3 de agosto.
Num dos últimos dias, enquanto procurava por comentários sobre a erupção do vulcão Fagradalsfjall na Islândia, encontrei uma mulher a pedir conselhos no Twitter sobre se devia reservar uma viagem para ir já ou se não havia grande urgência. Fiquei curioso, li mais e percebi que é alguém que garantiu ao marido no final do ano passado que compraria uma viagem na próxima vez que houvesse uma erupção. Era o sonho da vida dela e, naturalmente, um sonho que não se pode cumprir com data e hora marcada.
Por que é que isto é importante? Porque ir a um vulcão nunca esteve sequer nos meus desejos mais escondidos. Aliás, a erupção do Fagradalsfjall em 2021 passou-me completamente ao lado e se me perguntassem, teria hesitado em confirmar que tinha acontecido. Mas, por vezes, as oportunidades aparecem à nossa frente e, de repente, o que nunca pensámos fazer torna-se algo que não podemos não fazer. Mesmo que o processo seja longo.
O nosso regresso a Reiquejavique depois de um cruzeiro pela Gronelândia e norte da Islândia estava marcado para as seis da manhã de quinta-feira. Na véspera, em Isafjordur, recebemos uma mensagem a informar que um vulcão tinha entrado em erupção no país. «Estava nos nossos planos para amanhã ir lá acima», respondeu a Sarah. Estava a ser irónica. Era para o lado que dormíamos melhor.
Na manhã seguinte, ao levantar o carro que tínhamos alugado para explorar um pouco do território, a empregada perguntou-nos os planos para o dia e mencionou o vulcão. «Sim, sabemos, mas não devemos passar por lá», respondeu a Sarah, embora eu estivesse a subscrever telepaticamente a frase dela. «Oh, mas deviam. Deviam mesmo.» Foi o momento em que tudo mudou.

A erupção não ficava muito longe do sítio onde íamos passar a noite e decidimos que terminaríamos o dia com o vulcão. Subitamente, algo que nunca me tinha passado pela cabeça, que nunca tinha sequer surgido em conversa com ninguém, tornou-se um dos momentos pelos quais ansiava.
Depois de um dia a ver cascatas, geiseres, parques naturais, crateras e montanhas que nos fazem sentir que andamos a fazer um circuito hop on/hop off de wallpapers do Windows, chegaria o grande final. O momento tornou-se cada vez mais real quando ao fundo, ainda a mais de 50 quilómetros de estrada, começámos a ver o fumo branco a erguer-se por trás das montanhas. Mais perto, quando entrámos no município onde fica o Fagradalsfjall, recebi uma mensagem no telemóvel do 112.
«Visiting the volcano? Do not approach unless properly equipped (warm clothing, hiking boots, flashlight, food/drink, a charged phone). Stay off the lava!» Aqui, é caso para dizer que «a porra virou séria». Já havia notícias de duas pessoas que tinham ficado feridas, mas o nosso nível de aventureirismo era bastante reduzido. Ninguém estava a pensar correr riscos desnecessários e, para todos os efeitos, tínhamos aquilo tudo. Vá, mais ou menos, mas já lá vamos.
O parque de estacionamento onde deixámos o carro ficava próximo do sul da ilha e não sabíamos o que esperar. Quantos quilómetros até ver o vulcão? Ainda estava em erupção? Como seria a caminhada? Eram perguntas para as quais não sabíamos a resposta e que, na verdade, estávamos ainda muito longe de saber.

A solução foi seguir pessoas, até porque passou despercebida uma placa que indicava a distância para um ponto de observação e a direção do trilho mais próximo. Depois de uma primeira grande colina a subir, movidos pelo entusiasmo e desconhecido, percebemos que… nenhuma das nossas dúvidas ficou esclarecida. E andámos, continuámos a andar, e andámos mais um pouco até a Sarah perceber que tinha de desistir. Depois de mais de um quilómetro em solo desafiante e após um dia muito cansativo que incluiu uma queda, a placa que situava o ponto de observação a mais de três quilómetros, com nova subida, ainda mais íngreme, pela frente, ditava um ponto final na aventura.
Eu continuei. Ver um vulcão em erupção nunca tinha sido um objetivo, mas também não estava disposto a deixar tudo para trás e lembrar-me para sempre daquele dia em que *quase* o tinha visto, em que fiquei a três quilómetros e depois voltei para trás. A Sarah estava magoada, não conseguia. Eu estava cansado, sim, mas sem desculpa. Tornou-se um exercício mental, ainda mais do que o físico.
Aquela caminhada a solo de mais de 3000 metros para ver um vulcão não foi muito diferente de uma das corridas que faço com regularidade, em que a mente é sempre o maior obstáculo. «Tenho de aguentar até ali», «não posso abrandar agora», «vá lá, falta menos de metade», «vai valer a pena» são frases repetidas, mesmo quando o vento, o frio e as rolling stones do solo nos fazem escorregar sem nos dar qualquer satisfaction.
Nunca houve uma verdadeira sensação de perigo na ida, mas o nível de dificuldade aumentou bastante. Percebi cedo que o regresso da Sarah foi a melhor decisão. Escorregava cada vez com mais frequência e os tornozelos eram postos em ação (no dia seguinte li que um dos turistas feridos partiu o tornozelo e teve de ser transportado de helicóptero), mas de repente surgiu pela primeira vez um cheiro a queimado. Foi como uma cenoura aos olhos de um burro. Uma motivação para continuar a andar, cada vez mais, não necessariamente mais rápido, mas pelo menos não mais lento, e sentir que iria mesmo valer a pena.
A certa altura, tive mesmo de parar para recuperar o fôlego. Havia dezenas de pessoas a fazer o mesmo percurso, algumas já a voltar, e ninguém parecia desiludido. Quem voltava, estava feliz. Quem ia, ia encorajado pelo que ia encontrar e talvez não tivesse a pressão de não demorar muito. Quando parei, aproveitei simplesmente para olhar em volta. Num outro qualquer momento, só aquilo já teria valido a pena. As montanhas, os vales, o solo que se percebe claramente que já teve atividade vulcânica e, ao fundo, o mar. A natureza compôs o cenário e ainda oferece a banda musical, com o assobiar de um vento que ganha cada vez mais força.

Quando a parte mais difícil do trajeto – mesmo que ainda não o soubesse – terminou, encontrei uma tabuleta que me disse estar a mil metros do ponto de observação. Pior que isso, que o trajeto mais rápido para voltar ao parque de estacionamento é por outro lado, 600 metros mais curto. Resisti ao impropério em voz alta, mas posso não ter sido muito simpático comigo mesmo. Não só tinha ido pelo caminho mais longo como, pensava eu, pelo mais difícil. Só a motivação de faltarem mil metros fez esquecer tudo.
A montanha-russa de emoções era quase literal. Tinha apenas um grande cume à frente que me separava do fumo mas, assim que cheguei ao sopé, vi um enorme campo de lava seca. Ser ignorante no assunto pode não ter ajudado, mas pensei que fosse do dia anterior e que, como tal, a erupção nesse momento já não estivesse ativa. Continuava a ser impressionante, não tenham dúvidas, mas confesso ter sentido uma pequena desilusão antes de me obrigar a contornar o tal cume.
A visão de lava ao vivo pela primeira vez, ainda que ao longe, trouxe consigo uma emoção inexplicável. A primeira coisa que fiz foi tirar uma fotografia e enviar à Sarah. Tinha-lhe falado na hipótese de fazer uma videochamada mas a cobertura não é assim tão boa e teria pouca definição. Aliás, percebi imediatamente que mesmo a fotografia não faria jus ao que via. Tal como os icebergues que tínhamos visto na Gronelândia, há algo de sobrenatural que não passa pela lente da máquina. Se, no gelo, é a forma como o azul claro do reflete a luz, na lava é a viscosidade da erupção.
É difícil explicar. Numa imagem, poderá não parecer mais do que um incêndio rural, mas ao vivo, o cenário ganha vida. A metáfora que encontrei na altura foi a de um bico de fogão, embora tudo parecesse em câmara lenta, um efeito provocado pela viscosidade da lava. Podia ter passado horas a fotografar mas segundos a olho nu, mesmo que de longe, valeram muito mais a pena. Foi um momento singular, o momento que fez a diferença, o momento em que percebi que, mesmo que nunca tenha sido um sonho, será algo que não vou esquecer.
Percebi perfeitamente a expressão das pessoas que tinha visto a regressar. Há uma parte de nós que nos faz sentir realizados, como se tivéssemos descoberto uma nova emoção, uma diferente parte de nós. Há quem sinta o impulso de ir à procura de ainda mais e vá mais longe pelo campo de lava seca, mas mesmo à distância é extraordinário. Tal como é extraordinário regressar e, naqueles primeiros metros, cruzarmo-nos com pessoas que estão a contornar o cume no preciso momento em que veem lava pela primeira vez. «Awwww, awesome!» É uma sintonia de emoções que nos faz sentir privilegiados.
Por outro lado, e ao mesmo tempo, é um privilégio que exige fazer o caminho de regresso. O ditado pode dizer que a descer todos os santos ajudam, e voltar com aquela imagem ainda na mente é melhor do que ir com medo da desilusão, mas foi um desafio ainda maior. Quis ir pelo desconhecido, pelo trilho que me poupava 600 metros e, tendo em conta que grande parte seria a descer, senti que seria ainda mais rápido. Não fazia ideia era que seria bastante mais perigoso também.
Podem ler o resto do relato da Sarah e do Rui no seu blog, Atlas de Bolso.

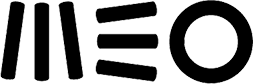

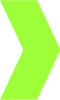
Comentários