
Texto: Carla Lourenço / Fotografia: João Pedro Augusto
Lá fomos, de mochilas atrás e sonhos à frente. Primeiro, ensardinhámo-nos numa carrinha que nos levou sem medos ravinas afora, a umas centenas de metros de altura que parei de estimar. Agarrei o braço do João com força e apontei para baixo. Via-se o rio, lá longe. E se as vertigens conseguissem consolidar uma forma corpórea, tê-las-íamos visto, fantasmagóricas, agarradas às janelas da carrinha com receio de caírem, o pânico nos olhos esbugalhados.
Quando finalmente nos anunciaram o destino, arrancámos todos os músculos que tinham ficado presos aos bancos, no meio de tantos solavancos, e saímos. A Hidrelétrica é um ponto de paragem - se é que assim lhe podemos chamar - no meio de um arvoredo desmatado. Dois restaurantes improvisados, lado a lado, oferecem buffets e saladas e hambúrgueres e sumos de fruta. Oferecem um descanso às dezenas de aventuras que estão prestes a começar. O sol estava alto, quente e queimava mais do que no nosso país - como se nos quisesse mostrar com um ar imponente e condescendente que ali é que era a sério, ali até se ergueram templos em seu nome. Vergámo-nos aos seus poderes, cobrimo-nos de branco, e ainda que as vestes não fizessem jus a um desejado ritual, iniciámos a peregrinação.

O caminho de terra batida ia encolhendo mais e mais, ao contrário dos rios que se abrem para o mar. E quando já só havia espaço para uma pessoa caminhar, a selva deu-nos as boas-vindas e quis conhecer-nos. Nome, idade, país, estado civil. Um aceno de mão e continuámos a conversa mais tarde. Para lá da cortina de tons verdes, um caminho de ferro inutilizado ostentava uma carruagem abandonada, azul petróleo, da Peru Rail - lia-se a amarelo. À sua frente, bancas inesperadas de comida convidavam a gastar uns soles em doces. Nem olhei duas vezes para não me sentir tentada. "Caminha que se faz caminho ao andar" e os passos que estavam por ser dados iam ser acompanhados de trovoada sem que o soubéssemos. Baixei-me devagarinho para olhar de perto um brilho azul em fundo verde. Talvez se achasse camuflado, mas o insecto não escapou ao meu olhar curioso. E não escaparam também as flores que choviam para o chão e que eu apanhava para cheirar. Escancarando as pétalas, perfumavam-nos com o aroma que insisti ser igual aos cogumelos que cozinho em casa.

O João foi encontrar-me umas dezenas de metros à frente, no topo de um aglomerado de rochas com vista para o Urubamba, que cantava alegre com os rebolos suaves e redondos, aperfeiçoados pelas águas frias. Nas mãos de fotógrafo tinha a câmara à espera, um dos olhos fechados enquanto o outro calculava o melhor ângulo, a melhor abertura, a melhor luz. Insistiu que me virasse para ele, que rodasse o corpo para a esquerda, que deixasse o cabelo como estava. E eu insistentemente adiei o momento. "Vira-te para cá" - disse-me ele, pela segunda ou terceira vez. A luz estava no sítio certo e o local era de cortar a respiração. A câmara estava pronta a disparar e eu sem me mexer. Demorei a virar-me; estava a limpar os olhos de onde desciam afluentes. De frente para o rio chorava de felicidade. Eram do Urubamba as minhas lágrimas. Já tinha sido ultrapassada a fronteira do sonho, naquele momento tudo era real. Os verdes, os azuis, os tons de terra, as texturas. O destino não tinha ainda sido alcançado, mas eu sabia bem que o importante, sem margem para dúvidas, era a viagem. Abracei-o com uma intensidade irrepetível. Estava ali, também, graças a ele e essa é uma dívida que nunca será saldada.

A selva estende-se por 10 km. A linha de comboio, ainda em funcionamento, serve de guia a quem caminha. Uma versão ferroviária das migalhas de Hansel e Gretel que alguém deixou para trás. Ao longe ouvimos o alarme arrastado do comboio que se aproximava e pedia distância de nós. Passou a ponte acelerado - aquela que eu tentei atravessar, mas não cheguei nem a meio. Não o vimos mais. Nem a ele nem a nenhum outro. Sobre os carris eu equilibrava a passada, com os braços esticados para cada um dos lados, desafiando a gravidade a não me levar com ela. O João tentava combater a vontade de fotografar, mas a derrota estava-lhe anunciada desde o momento em que entrou na selva.
As montanhas vestidas de verde encurralavam-nos carinhosamente para um abraço quente e húmido ao qual não poderíamos escapar. Na base cresciam arbustos, bananeiras - com bananas sempre verdes - fetos, e uma miríade de espécies que nem me atrevi a especular. Umas de folhas ovaladas, outras triangulares, outras compridas, simplesmente. Aquela combinação que poderia até suspeitar-se aleatória, revelava milhares ou milhões de anos de preparações para nos receber, como se fossemos os convidados especiais de uma festa. O que fica por descrever, e ficará muito provavelmente por mais que se tente encontrar os melhores adjectivos, é a beleza crua, real e inesperada da selva. As dimensões, as camadas, a profundidade, as formas, as cores, o jeito infantil como as sombras e as luzes brincam umas com as outras. No meu íntimo, mais do que o Urubamba inundava-me continuamente uma felicidade avassaladora, que tentava partilhar com o João através do olhar e do silêncio. Ele, com os seus olhos de selva, que respondem também ao sol que recebem, devolvia-me um sorriso. Ríamo-nos sem razão, ou talvez porque tínhamos ali todas as razões para nos rirmos.

Antes ainda de chegarmos a Águas Calientes, parei para decorar também os cantos das aves. Tinha já tocado as plantas e os musgos, tinha já respirado fundo e inspirado os perfumes, tinha já olhado mais do que a vista alcançava. Tentava que todos os sentidos fossem embrulhados como a lembrança mais selvagem que dali poderia levar. E se é verdade que não levei a selva à boca, é indiscutível que me ficou um gosto a quero-mais. O esforço físico que impusemos nesta jornada foi ultrapassado pela realização espiritual que alcançámos. Sabemo-lo bem. Esperávamos o melhor, mas esta aventura foi melhor do que esperávamos.

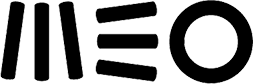
Comentários