
Texto: Carla Lourenço / Fotografia: João Pedro Augusto
Quando o despertador tocou na manhã seguinte, o sol já estava de pé. A grande vidraça do quarto, entretanto destapada, mostrava-nos abaixo a rua pouco movimentada, sem carros mas repleta de pó. Assemelha-se em muito a Tarfaya, a vila Marroquina que presta tributo a Saint-Exupery, no limite norte do Saara Ocidental - apesar de os desertos se encontrarem em hemisférios opostos. Também em Uyuni o sol ofusca de tão brilhante, mas raposas, nem vê-las. Coloquei as nossas botas do lado de fora do parapeito da janela para que aquecessem enquanto tomávamos o pequeno-almoço. Era quase certo que os próximos dias seriam mais comedidos no que se referia a condições habitacionais e por isso aproveitámos ao máximo todos os pequenos luxos.
Pelas 10 horas, como tinha ficado combinado, entrámos pelas portas de madeira amassadas da agência que nos levaria numa expedição de três dias desde Uyuni até São Pedro do Atacama, no Chile. Disseram-nos que esperássemos pelo guia - não tardaria muito. E assim foi. Vimos chegar um jipe Toyota com um grande autocolante na porta do condutor que mostrava uma montanha; por baixo lia-se ‘Sol Andino Expediciones’. O tejadilho, protegido por uma lona amarela, acomodou as nossas duas mochilas, ao lado de três jerricans azuis e de outras duas mochilas. Ao abrirmos a porta, empolgados, entrámos a meio de uma conversa que se passava no banco de trás - o Abel e o Leandro apresentaram-se logo. O guia, Luís de seu nome, não era de muitas palavras. Optava por falar em espanhol sempre que possível, escapando-se ao inglês, e foi assim que nos informou que faltavam ainda duas pessoas. Recolhemos a Camille e o Maxime depois de uns pares de voltas pela vila, enquanto o Luís parava aqui e ali para deixar ou receber encomendas.
O grupo estava então completo: dois brasileiros, dois portugueses, dois belgas e um boliviano. Despedimo-nos de Uyuni - que não voltaríamos a ver - e arrancámos, com uma dose elevada de excitação, para um cemitério de comboios. O cenário desértico, empoeirado, que já nos era familiar, via-se cortado por caminhos de ferro entretanto inutilizados. Estacionados na sua última paragem, cerca de 100 locomotivas e vagões jaziam esqueléticos, fantasmagóricos, resquícios de um passado longínquo em que a prata, o ouro e o estanho atravessavam fronteiras. Inaugurada no final de 1890, a Estação Ferroviária de Uyuni viria a tornar-se obsoleta algum tempo depois, deixando para sempre as carcaças de aço abandonadas ao vento.


Imponentes, apesar de combalidos, os vagões deixaram-se conhecer sem reservas. “Façam o favor de entrar; estejam à vontade” - diriam, se nos falassem. Escalámos os gigantes alaranjados. Com passadas cuidadosas caminhámos pelos dorsos grafitados. Olhámo-los por dentro, para fora, e vimos ao longe um céu azul cobalto acima das montanhas. Como nós, outros ziguezagueavam na poeira e deixavam-se fotografar - com medo que as memórias daquele lugar lhes falhem um dia.
O Luís tinha sido bastante claro: 20 minutos para explorar o cemitério. Findo esse tempo, os seis turistas deveriam regressar ao ponto de encontro para prosseguirem viagem. Como ovelhas sem pastor, reunimo-nos, voluntariosamente, junto às estátuas de ferro plantadas no solo arenoso - algumas tinham a forma de animais, outras de soldados do Império Galáctico Star Wars. Verificámos os veículos um a um; com poucas diferenças entre si, mais de uma dezenas de jipes permaneciam alinhados, como irmãos e primos para a tradicional fotografia de família. Aos poucos, os laços familiares automobilísticos foram-se quebrando e o pó levantava-se a cada despedida.
Nós estávamos órfãos de guia e de jipe. Para onde quer que olhássemos não havia sinal da lona amarela nem do autocolante redondo. Tentando manter a calma, assaltava-me a culpa de não ter trazido a mochila comigo nos supostos 20 minutos. Tudo ficara para trás: a comida, o casaco, o passaporte, o dinheiro. Enquanto calcorreava a areia cabisbaixa questionava a decisão que tinha tomado na base da preguiça - e questionava também a índole do nosso guia. Teria ele fugido com todos os nossos pertences e não voltaria mais para nos buscar? Teríamos nós acabado de sofrer o primeiro grande azar de uma viagem até então inquestionável no que toca a sorte? Os 20 minutos passaram a 40, e os dois portugueses, os dois brasileiros e os dois belgas estavam praticamente sozinhos no cemitério de comboios. Em sentido contrário aos jipes que partiam cheios de turistas, vimos aproximar-se um. Parou na terra batida, deixando um rasto de pó no ar. O condutor olhou-nos desinteressadamente e deu-nos indicação para entrarmos. O Luís recebeu-nos com meia dúzia de palavras; nunca nos explicou onde estivera nem porque se atrasou tanto. E nós, como se tivéssemos celebrado um pacto de esquecimento, decidimos não perguntar.
O caminho abriu-se para uma estrada alcatroada vazia. A paisagem cor de terra ia aos poucos esbranquiçando, como se a esfregassem enfurecidamente com lixívia para lhe tirarem as manchas das aventuras passadas. E como se tivesse passado apenas um piscar de olhos, vimo-nos num cenário monocromático. Baixámos os vidros com o entusiasmo de uma criança que abre um presente. O jipe deslizava pelos cristais de sal do Salar de Uyuni. Pelos mesmos caminhos que anos antes receberam o Dakar. Tudo à nossa volta era branco e a falta de referências espaciais - uma árvore, um arbusto, o que fosse - confundia-nos os sentidos, entorpecia-nos a noção de distâncias e tamanhos. Víamos, lá longe, as montanhas; quão longe, não saberíamos dizer. Trilhos semelhantes, em paralelo, eram feitos por outras viaturas e culminavam todos num parque de estacionamento imaginário junto ao grande monumento cristalizado que oficializa a chegada ao maior deserto de sal do mundo.


A receber os turistas estava um rapaz com um aparato de objetos aleatórios: um dinossauro de plástico, uma garrafa de cerveja vazia, uma lata de Pringles, uma bota sem par. De sobrancelha em riste, deixámo-lo na receção fictícia e imiscuímo-nos no deserto. O solo salgado, planície eterna, fazia-nos pequeninos. Nas nossas versões infantis saltámos e corremos sorridentes. Fizemos fila para nos fotografarmos junto ao monumento de sal, posámos elegantes entre as bandeiras esvoaçantes - algumas rasgadas - que sem fronteiras ou conflitos internos se destacavam e cortavam a monotonia do céu puramente azul, e tal como quando tínhamos 10 ou 11 anos, de tanto brincarmos, chegámos atrasados ao almoço - a mesa posta à nossa espera. Só faltávamos nós.
Conduzir no Salar de Uyuni adivinhar-se-ia entediante. Quilómetros e quilómetros de nada, salpicados a coisa nenhuma. Uma ou outra silhueta montanhosa no horizonte, com alguma sorte. Só que não foi o caso. A paisagem repetia-se sem esforço, é certo; é indiscutível; mas os minutos em viagem renovavam-se continuamente. Ao meu lado, no banco do jipe junto à janela, os olhos do João - dessa vez mais acastanhados - fotografavam o terreno imenso. Observei-o vezes sem conta e deixei-me ficar em silêncio. Ali estava eu, a testemunhar a felicidade genuína que faz os sorrisos verdadeiros. Vi-o pegar na câmara fotográfica, depois no telemóvel. Parava e recomeçava, como se o branco sujo não fosse sempre o mesmo. O sonho que o João tinha de percorrer os caminhos do Dakar já não constava numa lista velha perdida numa gaveta, junto com outros sonhos por realizar.
Precisamente quando não se avistava qualquer sinal de vida, tão longe quanto a nossa vista alcançava, o Luís avisou-nos de que iria parar. Pediu-nos que saíssemos do jipe e que nos alinhássemos à sua frente. Também ele trazia consigo um dinossauro de plástico, uma lata de Pringles, uma garrafa vazia de cerveja. Vimo-lo jogar o braço ao banco do condutor para de lá retirar uma coluna portátil. Colocou-a no chão e disse-nos num inglês latinizado “vamos dançar no deserto”. À vez, cada um dos objetos serviu de adereço para fotografias que transformavam uma vulgar ilusão de ótica em guiões de filmes com um orçamento baixo e duvidoso. Ora os três pares de turistas fugiam de um dinossauro que os tentava capturar, ora tentavam endireitar uma garrafa gigante, ora saíam de uma lata monstruosa de batatas fritas ao som de um hit da Shakira. Fizeram do Deserto de Sal a maior danceteria do mundo e dançaram como se nunca mais o pudessem fazer. Os nossos risos perderam-se no salar quando ao olharmos para trás vimos o Abel sem meia perna, a manga das calças a sacudir ao vento, posando aqui e ali com a prótese que nos contou mais tarde que chegou a servir de arma de arremesso. Como poderia uma viagem assim vergar-se ao tédio?

Ao navegarmos pelo antigo protolago que foi o Salar de Uyuni fomos avistando a formação de um arquipélago rochoso. As ilhas, agora ligadas por terra, foram no passado ponto de paragem e refúgio para exploradores intrépidos que procuravam recuperar o fôlego de tantas aventuras vividas. Parámos na Ilha Incahuasi: a casa do Inca. Num pequeno ninho rochoso, a fazer lembrar as casas de xisto em Portugal, deixámos o pagamento e recolhemos os bilhetes de entrada - a fila não era extensa. O percurso circular faz-se em cerca de 45 minutos - se não nos distrairmos demasiado com os catos de mais de 10 metros que em formatura perfeita batem continência ao sol. Circundámos a ilha vagarosamente; fomos-lhe descobrindo os caminhos pedregosos, as reentrâncias, as sombras. No ponto mais alto, o pequeno planalto servia de local de encontro aos turistas, e uma placa já gasta anunciava o nome da Plaza. A vista 360o no topo da ilha mostrava-nos um mar branco sem ondas. Milhas e milhas de sal, ocasionalmente cortadas pelos rastos que os jipes-navios deixavam. Linhas finas e infinitas que à distância se pareciam com carreiros de formigas. Ao longe, outras ilhas que não iríamos pisar, outras aventuras que não iríamos viver.

O sol insistia em manter-se acordado, como uma criança que combate o sono para fazer companhia aos adultos pela noite adentro. Por fim, deitou-se. Puxou os lençóis das montanhas para cima e suspirou de cansaço, deixando no ar todas as cores possíveis e imaginárias. O jipe estava estacionado num mar de cristais de sal que refletiam os últimos raios que chegavam à tangente. Encarando o vento frio que me enregelava as mãos sem luvas, deixei os dedos procurarem pedras preciosas pelo chão. Encontrei-as. Encontrei-os: cubos transparentes, conglomerados, salgados. Tirei-os a custo do solo que já fora mar e guardei-os no bolso. Não ostentavam a luxúria das gemas que se pavoneiam em pescoços ou anelares magros. Em vez disso, mostravam-se simples, baços, um pouco rombos até - e encapsulavam anos de histórias, como as que eu mais tarde contaria numa mesa de madeira, no centro de um pequeno restaurante da nossa Lisboa. O céu que nos rodeava tinha-se transformado numa grande tela por onde escorriam devagarinho os pantones mais raros da natureza. O espetáculo a que assistimos, em silêncio, era digno de muitas salvas de palmas de pé, mas nem a ovação da humanidade inteira lhe faria jus.



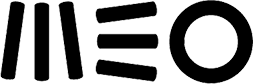

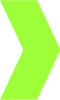
Comentários