
Texto: Carla Lourenço / Fotografia: João Pedro Augusto
De regresso às ruas movimentadas, fomos engolidos por fanfarras juvenis que decoravam com sons as cores que pairavam no ar naquele fim de tarde. Como uma centopeia gigante de muitas cabeças e pernas, deambulámos no percurso pré-definido, com os percussionistas a marcarem o passo. A alegria era contagiante, passava-se de mão em mão, qual bilhete de adolescentes, e enchia-nos por dentro como um chá quente num copo já meio cheio. Escapámo-nos, numa das esquinas, enquanto os pratos metálicos batiam e os trompetes riam, e entrámos pelas portas do Joey para jantar. Escondemo-nos na sala do fundo – não fosse o monstro gigante aparecer para nos levar em caminhadas circulares pela cidade – e comemos e bebemos à nossa. Os corações acelerados, em sintonia, procuravam naquela sopa quente – uma espécie de ramen latino que pecava de tão deliciosa que era – a tranquilidade que se quer depois da vida nos surpreender ininterruptamente... E que se precisa antes do que estávamos prestes a viver.
O táxi estava atrasado e nós tínhamos poucos minutos para chegar à estação de autocarros. Revisitámos o relógio no telemóvel vezes sem conta, até que ouvimos uma buzina gasta vinda da rua fria. O taxista, jovem, embrulhado numa sweat com um capuz que lhe escondia a cara, disse-nos atabalhoadamente que as mochilas não poderiam ir no porta-bagagens. Encolhemos os ombros e acedemos. Entrelaçámos as malas nas pernas, apertados no banco de trás e pedimos que nos levasse ao terminal de autocarros de Sucre. No retrovisor pendiam decorações que baloiçavam nas curvas. Vi-o jogar a mão ao botão circular do rádio para aumentar o volume do reggaeton que era cuspido pelas colunas. Tínhamos um receio ansioso de não chegar a tempo e de perder a ligação noturna para Uyuni, mas mais receio tive eu quando ao vê-lo chegar à rotunda dos dinossauros – que eu reconhecia perto da estação rodoviária - o vejo guinar o carro em direção a uma ruela escura. Engoli em seco e disparei o olhar em todas as direções. Sentia que não era por ali. Sussurrei ao João – não fosse o reggaeton suficiente para abafar o segredo – que eu não reconhecia aquele caminho. As ruas abandonadas a pouca luz repetiam-se a cada esquina e eu estava assumidamente assustada. Vi o João abrir no telemóvel a nossa localização, a luz azul enchia o fundo do táxi, e, antes que tivéssemos tempo de pensar em estratégias defensivas, o taxista pára de rompante à porta do terminal. “Chegámos”, disse. Atirámo-nos para o alcatrão, agradecemos hesitantes e entregámos os 15 bolivianos que nos custaram a corrida.
No terminal de autocarros, a sujidade era tão abundante quanto as pessoas que se aglomeravam aos cantos, feitas bolor que se vai espalhando sem pedir licença. No ar, os cheiros a suor e a fritos misturavam-se. A pouca luz transportava-nos para um filme onde os finais raramente são felizes. Segui os passos do João, a escassos centímetros, pelos corredores que ostentavam lojas já fechadas, e fi-lo parar junto a uma parede enegrecida, perto da saída. À nossa frente, uma coleção de dezenas de cartazes colados uns por cima dos outros, combatendo pelo melhor destaque, mostrava um sem número de rostos em grande plano. Desaparecidos. Jovens, adultos, idosos. Em comum, partilhavam as famílias que nada sabiam do seu paradeiro. Não sei quantos contei. Encostei a minha mão à do João, apertei-lhe os dedos frios e comentei “tantas pessoas desaparecidas. Será que…?”. Na minha imaginação formavam-se, demasiadamente reais, os cenários das histórias que tínhamos ouvido falar no dia anterior.
Estávamos numa pequena sala de uma galeria de arte quando o nosso guia contou que em La Paz, há alguns meses, um rapaz que tinha ido para uma festa - e que bebeu mais do que a conta - acordou dentro de um caixão. O relato na primeira pessoa, que se espalhou para lá das fronteiras bolivianas, detalhava que o rapaz tinha sido agredido e enterrado vivo para fazer de sullu – um sacrifício e uma oferenda à Pachamama, a mãe terra. Quando tentou apresentar queixa, os efeitos do álcool falaram mais alto e a polícia acabou por não acreditar e dar seguimento. A história macabra – alegadamente verdadeira segundo a personagem principal - tinha bases assustadoramente reais. Na tradição Inca, a veneração a Pachamama é rito singular e que se desdobra em diversas variantes: oferecem comida, bebida, flores, animais. Existem gestos simples, singelos, outros mais complexos. Li, mais tarde, que um dos rituais passa pelo sacrifício de fetos de lamas e de outros animais no local onde se pretende construir uma habitação. Quanto maior e mais importante a casa a edificar, maior e mais importante deve ser o sacrifício – que poderá, em última instância, incluir seres humanos. Diz-se pelas ruas que a componente humana é facilmente alcançada, aliciando quem se encontra sem-abrigo de forma permanente.
Todos estes detalhes, incluindo gritos impossíveis de ler nestas linhas, fulminaram a minha imaginação nos poucos segundos em que aguardei a resposta do João. No exterior do terminal, ao comentarmos a história com uma cara que reconhecemos do Parque Cretácico, o desfecho foi igualmente desmoralizador. Dizia-nos a rapariga que não acreditava que as pessoas desaparecidas fossem alvo de captura para sacrifício. O mais certo seria, certamente, terem sido envolvidas numa rede de tráfico de órgãos. Esta segunda possibilidade de desfecho não teve em mim o efeito tranquilizante que ela pensou – talvez – passar-me. O meu olhar pestanejava medo, enquanto seguia os curtos movimentos do João. Atrasado, o autocarro estacionou fora do parque, sem qualquer indicação. Subimos ao primeiro andar, colocámos as mochilas debaixo do banco, ouvimos o sotaque português que não saía das nossas bocas e deixámo-nos guiar noite adentro. Era esta a última viagem noturna de longo curso. Oito horas exasperantes, em dois assentos avariados, ligavam Sucre a Uyuni – a vila desértica que nos recebeu às cinco da manhã.

Uyuni: terra e pó
Deambulámos de mochilas às costas pelas ruas criadas numa perfeição geometricamente paralela e perpendicular. A escuridão era interrompida pelos candeeiros que soluçavam uma luz gasta. O frio, que nos impunha uns pares de Celcius negativos, gelava-nos a roupa e as feições contorcidas das caras ensonadas. Estávamos no que facilmente se adjetivaria de um faroeste boliviano. Estradas de terra e pó. Àquela hora, só os passageiros recém-chegados - e um ou outro táxi de serviço - dobravam esquinas. O hostel que tínhamos reservado na noite anterior esperava-nos com a sua fachada avermelhada. Entrámos à pressa, abandonámos pelo chão do quarto espaçoso os pesos que carregávamos e em poucos minutos o João adormecia debaixo de três mantas, enquanto o sol começava a espreitar lá fora.
Este vilarejo, às portas do maior deserto de sal do mundo, carrega o histórico das corridas Dakar. Um monumento feito de cristais esbranquiçados, ostenta na praça central as cores da Bolívia. Será certamente motivo de conversas que resgatam o passado e evocam memórias do rali. O João, sem ali ter estado em 2016, contava-me detalhadamente os percursos, as paisagens, as provações que os pilotos passaram - tudo como se ele tivesse sido um dos co-pilotos que chamavam o deserto pelos seus dois primeiros nomes. Demos por nós a vaguear preguiçosamente sem um destino concreto, percorrendo as ruas só por percorrer, tentando imaginar o quotidiano de uma vida tão isolada. Fileiras de bancas alinhavam-se por categorias e ofereciam aos transeuntes pipocas maiores do que o normal, óculos de sol, cabos para carregar o telemóvel. Uma mixórdia organizada, a bem dizer. Em poucos passos calcorreámos o vilarejo. A descida do sol no horizonte levava consigo as temperaturas amenas e lançava um sinal de alerta sobre o frio que estaria para chegar. Antecipámos a chegada da noite, subimos os dois lances de escadas que separavam o nosso quarto do resto do mundo e deixámo-nos envolver por um conjunto de episódios de uma série sobre um espião da Mossad. The Spy, cinematograficamente interessante e baseada em factos verídicos. Convenhamos: a utilização da primeira pessoa do plural foi errada - eu adormeci rapidamente; só o João acompanhou tudo de fio a pavio e lá me ia colocando a par dos acontecimentos mais importantes da trama.

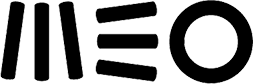

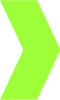
Comentários